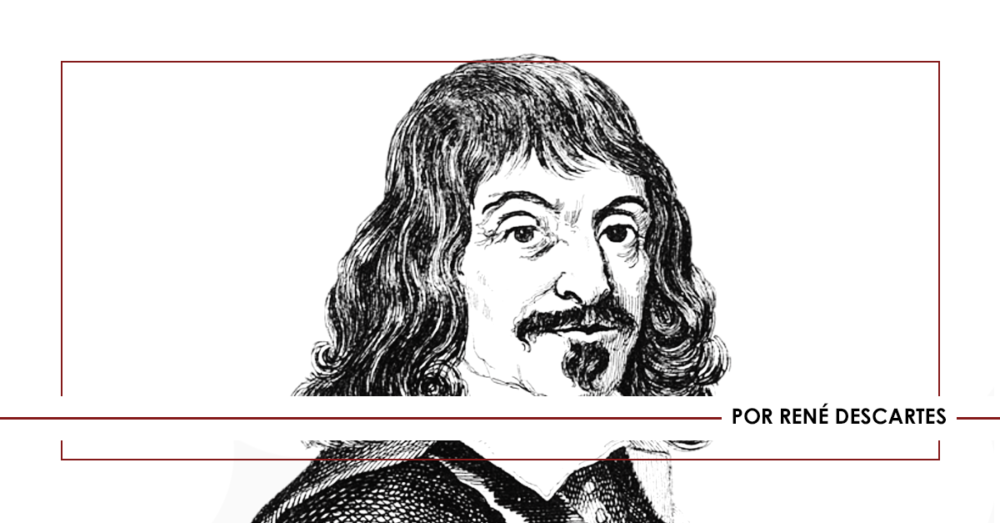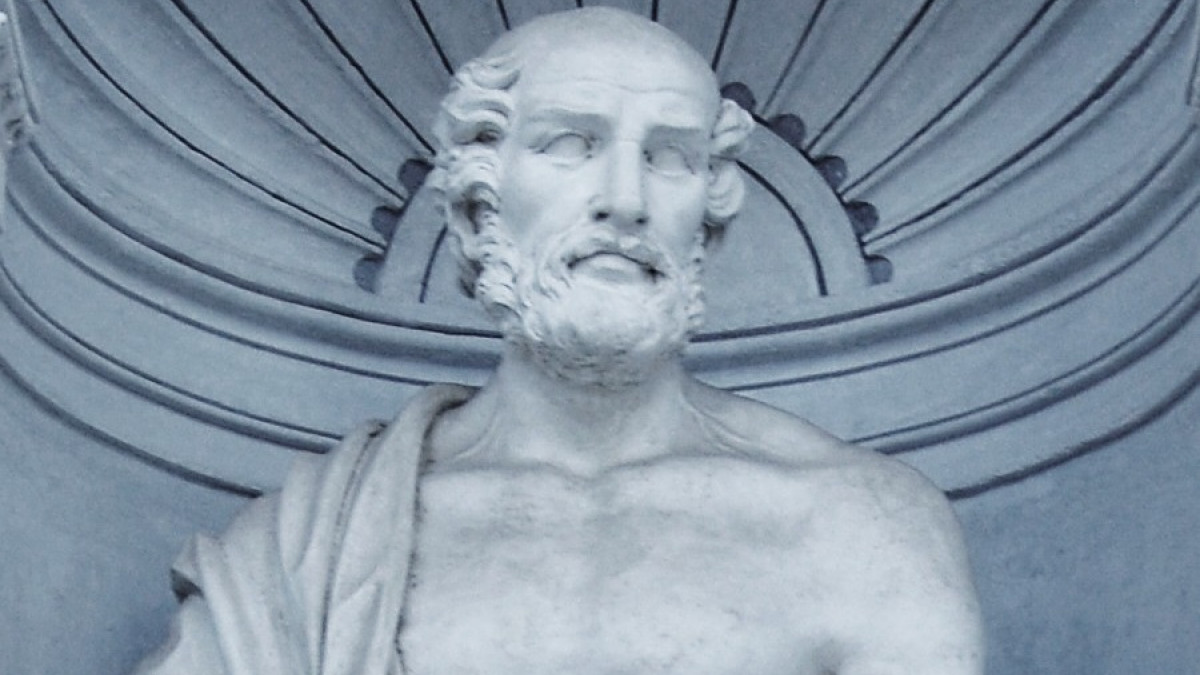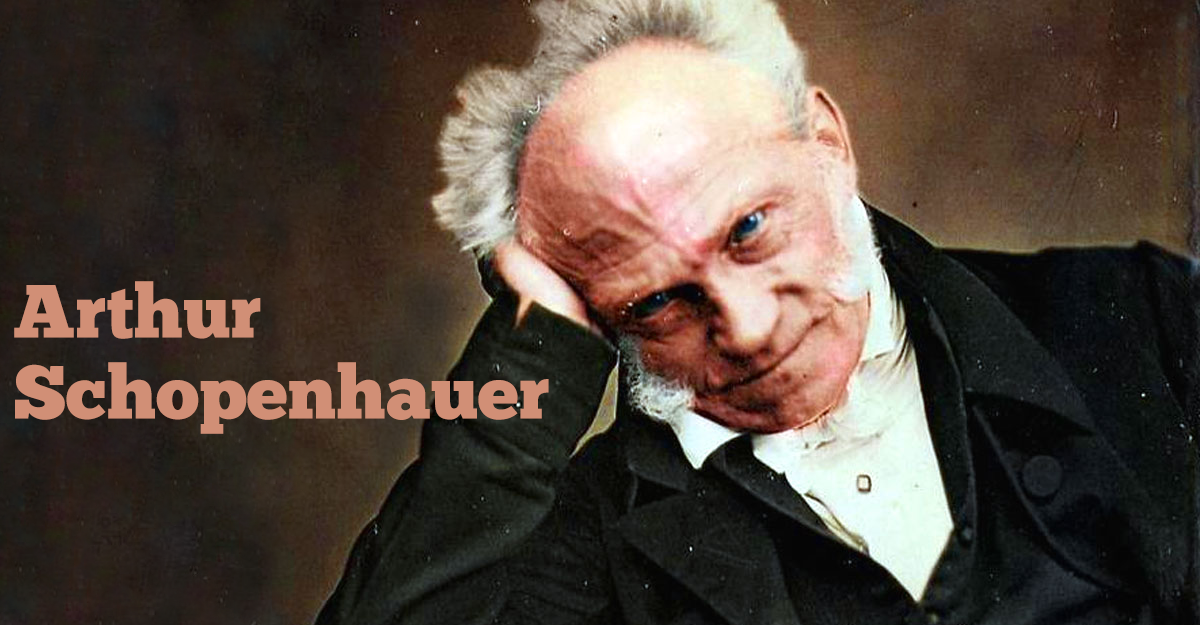Índice
- Introdução;
- Primeiros anos de vida e educação;
- Descobertas iniciais;
- Virada metafísica e o Discurso sobre o método;
- A metafísica;
- Controvérisas teológicas e morte;
- Desenvolvimentos filosóficos;
- Uma nova metafísica e uma nova epistemologia;
- Obras;
- Referências.
Introdução
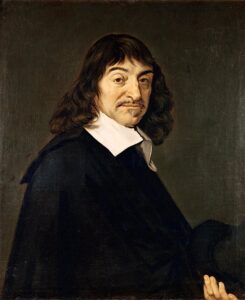
René Descartes (1596–1650) foi um matemático criativo de primeira ordem, um importante pensador científico e um metafísico original. Ao longo de sua vida, Descartes foi, primeiramente, um matemático, em segundo lugar um cientista natural ou “filósofo natural”, e em terceiro lugar um metafísico. No campo da matemática, ele desenvolveu técnicas que possibilitaram a criação da geometria algébrica (ou “analítica”).
Na filosofia natural, é creditado com várias conquistas: foi o primeiro a publicar a lei do seno da refração; desenvolveu um relato empírico importante sobre o arco-íris; e propôs uma explicação naturalista para a formação da Terra e dos planetas, sendo um precursor da hipótese nebular, que sugere que os planetas se formaram a partir de matéria dispersa orbitando o Sol. Mais importante ainda, Descartes ofereceu uma nova visão do mundo natural que moldou a física moderna: um mundo de matéria dotado de algumas propriedades fundamentais e que interage de acordo com certas leis universais. Esse mundo natural incluía uma mente imaterial que, nos seres humanos, estava diretamente relacionada ao cérebro, posição que levou ao moderno problema mente-corpo.
Na metafísica, ou seja, na busca pelos princípios fundamentais de tudo o que existe, René Descartes apresentou argumentos para a existência de Deus e demonstrou que a essência da matéria é ser espacialmente extensa, enquanto a essência da mente é o pensamento, no qual se inclui tanto as imagens sensoriais quanto o discurso racional. Descartes afirmou, desde cedo, possuir um método especial, que foi variadamente aplicado na matemática, na filosofia natural e na metafísica, e que veio a incluir, ou a ser complementado, por um método de dúvida.
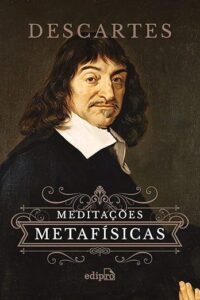
Descartes apresentou seus resultados em obras importantes publicadas durante sua vida, como o “Discurso sobre o Método” (publicado em francês em 1637), juntamente com seus ensaios “Dióptrica”, “Meteorologia” e “Geometria”; as “Meditações sobre a Filosofia Primeira”, com suas objeções e respostas (em latim, 1641, com uma segunda edição em 1642); os “Princípios da Filosofia”, que abordam sua metafísica e grande parte de sua filosofia natural (em latim, 1644); e “As Paixões da Alma”, sobre as emoções (em francês, 1649). Obras publicadas postumamente incluíram o “Compêndio de Música” (em latim, 1650), suas cartas (em latim e francês, entre 1657 e 1667); “O Mundo, ou Tratado sobre a Luz”, contendo o núcleo de sua filosofia natural (em francês, 1664); o “Tratado sobre o Homem” (em francês, 1664), contendo sua fisiologia e psicologia mecanicista; e as “Regras para a Direção do Espírito” (em latim, 1701), uma obra inacabada que tentava delinear seu método.
As obras de Descartes foram recebidas e avaliadas de maneiras variadas. Entre os eruditos de sua época, ele foi considerado um dos maiores matemáticos, desenvolvedor de uma nova e abrangente física ou teoria da natureza (incluindo os seres vivos) e proponente de uma nova metafísica. Nos anos seguintes à sua morte, sua filosofia natural foi especialmente valorizada e discutida. Suas obras foram invocadas em debates sobre a igualdade das mulheres.
No século XVIII, aspectos de sua ciência permaneceram influentes, assim como seu projeto de investigação das capacidades cognitivas do conhecedor ao avaliar a possibilidade e a extensão do conhecimento humano. Ele também foi lembrado por seus argumentos céticos e por não fornecer uma resposta satisfatória a eles em sua metafísica. No século XIX, foi reverenciado por sua fisiologia mecanicista e por sua teoria de que os corpos dos animais são máquinas, constituídos por mecanismos materiais e governados apenas pelas leis da matéria.
Já no século XX, ele foi celebrado de diferentes maneiras: por seu famoso ponto de partida no “cogito”, criticado pelos dados sensoriais que alguns alegaram ser o legado de seu ponto de partida cético e considerado um modelo de filósofo culturalmente engajado. Ele tem sido visto de várias formas: como herói e vilão; como um brilhante teórico que forjou novas direções no pensamento e como precursor de uma concepção fria, racionalista e calculista dos seres humanos. Aqueles que se iniciam no estudo de Descartes devem, antes de desenvolver uma visão sobre seu legado, se engajar em suas próprias obras com profundidade.
Primeiros anos de vida e educação
René Descartes nasceu em 31 de março de 1596, na casa de sua avó materna em La Haye, na região de Touraine, França. Seu pai, Joachim, era advogado e residia em Châtellerault (22 quilômetros a sudoeste de La Haye, do outro lado do rio Creuse, na região de Poitou). No entanto, ele estava ausente no Parlamento da Bretanha, em Rennes, no momento do nascimento de Descartes. A cidade de La Haye, localizada 47 quilômetros ao sul de Tours, foi posteriormente renomeada para Descartes.
Quando Descartes tinha treze meses e meio, sua mãe, Jeanne Brochard, faleceu durante o parto. O jovem René passou seus primeiros anos com sua avó, Jeanne Sain Brochard, em La Haye, junto com seu irmão mais velho, Pierre, e sua irmã mais velha, Jeanne. Provavelmente, ele se mudou para a casa de seu tio-avô, Michel Ferrand, que, como muitos dos parentes de René, era advogado. Ferrand era conselheiro do rei e ocupava o cargo real de tenente-general provincial em Châtellerault. Quando Descartes conheceu Isaac Beeckman, em 1618, apresentou-se como “Poitevin”, ou seja, natural de Poitou. Durante esse período (e ocasionalmente mais tarde), ele também assinava cartas como “du Perron” e se intitulava “sieur du Perron” (Senhor de Perron), em referência a uma pequena propriedade em Poitou que herdara da família de sua mãe. Contudo, não negligenciava seu local de nascimento em La Haye, e em uma carta de 1649, ele se descreveu como “um homem que nasceu nos jardins de Touraine”.
Em 1606 ou 1607, Descartes, que era católico, ingressou no recém-fundado Colégio Jesuíta de La Flèche, onde permaneceu até 1614 ou 1615. Ele seguiu o curso habitual de estudos, que incluía cinco ou seis anos de ensino gramatical (gramática latina e grega, poetas clássicos e Cícero), seguidos de três anos de filosofia. Por norma, o currículo de filosofia jesuíta seguia Aristóteles, sendo dividido nos tópicos padrão da época: lógica, moral, física e metafísica. Além disso, os Jesuítas incluíam matemática nos últimos três anos de estudo.
A filosofia de Aristóteles era ensinada por meio de manuais e comentários impressos sobre suas obras. O próprio Aristóteles frequentemente discutia as posições de seus predecessores antigos, e os comentários mais extensos elaboravam em detalhes posições distintas da sua. Nesse contexto, e considerando a leitura de Cícero, Descartes teria sido exposto às doutrinas dos atomistas antigos, de Platão, dos estóicos e teria ouvido falar dos céticos. Além disso, importantes eventos intelectuais foram celebrados em La Flèche, como a descoberta das luas de Júpiter por Galileu em 1610. Embora a filosofia escolástica aristotélica dominasse os anos de formação de Descartes, não era a única que ele conhecia.
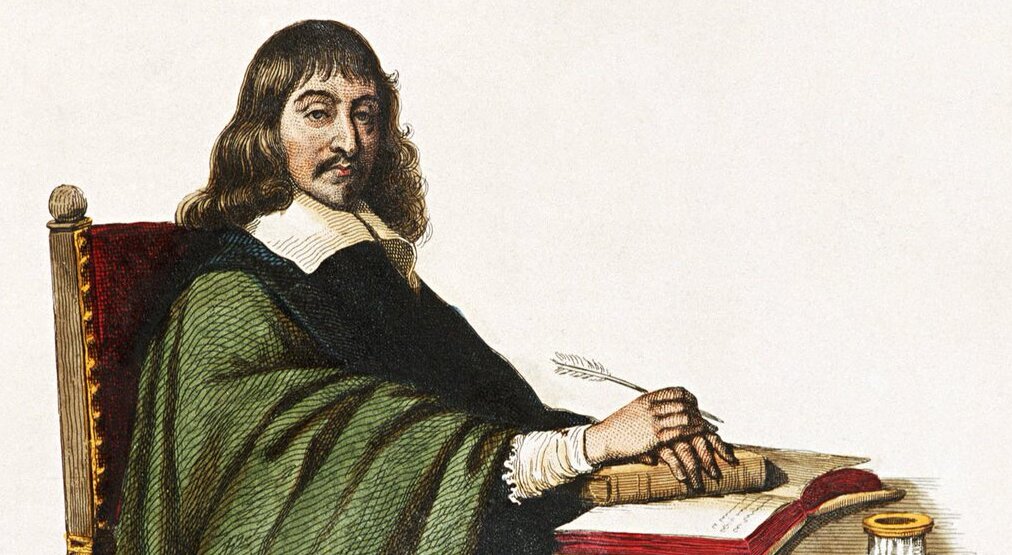
Famosamente, Descartes escreveu na parte autobiográfica do “Discurso” (1637) que, ao deixar a escola, “me vi cercado por tantas dúvidas e erros que cheguei a pensar que nada havia ganhado com minhas tentativas de me educar, a não ser o aumento do reconhecimento de minha ignorância”. No entanto, continuou, ele não “deixou de valorizar os exercícios feitos nas escolas”, pois as línguas, as fábulas, a oratória, a poesia, a matemática, a moral, a teologia e a filosofia tinham todas o seu valor, assim como a jurisprudência, a medicina e outras ciências (incluindo a engenharia) que servem como profissões e que alguém poderia estudar após frequentar uma escola como La Flèche. Descartes observou a contradição e o desacordo que afligiam a filosofia e, por conseguinte, as ciências superiores (incluindo a medicina), “na medida em que tomam seus princípios emprestados da filosofia”. Um ano depois, em 1638, ele disse a um pai inquiridor que “em nenhum lugar do mundo a filosofia é ensinada melhor do que em La Flèche”, onde aconselhou seu correspondente a enviar seu filho, mesmo que ele quisesse que o jovem transcendesse o aprendizado das escolas, sugerindo também que o filho poderia estudar em Utrecht com Henry le Roy, discípulo de Descartes. De acordo com o “Discurso”, não era surpreendente que a filosofia ensinada em La Flèche fosse incerta: tinha que ser, uma vez que Descartes estava oferecendo um primeiro vislumbre da verdadeira filosofia, descoberta recentemente. Até que pudesse ser promulgada, La Flèche, ou outra boa escola, serviria.
A família de Descartes queria que ele fosse advogado, como seu pai e outros parentes. Para esse fim, ele obteve um diploma de direito em Poitiers, em 1616. No entanto, nunca exerceu a advocacia nem ingressou no serviço governamental que essa prática tornaria possível. Em vez disso, tornou-se um soldado de alta patente, mudando-se, em 1618, para Breda, para apoiar o Príncipe Protestante Maurício contra as regiões católicas dos Países Baixos (posteriormente a Bélgica), controladas pela Espanha — uma terra católica, como a França, mas que, naquele momento, era inimiga.
Descobertas iniciais
Enquanto estava em Breda, Descartes conheceu Isaac Beeckman, um matemático e filósofo natural holandês. Beeckman propôs vários problemas a Descartes, incluindo questões sobre corpos em queda, hidrostática e matemática. Juntos, eles se engajaram no que chamavam de “physico-mathematica”, ou física matemática. Desde a antiguidade, a matemática havia sido aplicada a várias áreas físicas, como ótica, astronomia, mecânica e hidrostática. Descartes e Beeckman abordaram esse trabalho com um compromisso com o atomismo, acreditando que os átomos eram os constituintes básicos da matéria. Atribuíam a esses átomos não apenas tamanho, forma e movimento, mas também peso. Descartes, inclusive, abriu uma seção em seu caderno intitulada “Democritica”, em homenagem ao antigo atomista Demócrito.
Foi talvez nessa época, embora com certeza até 1628, que Descartes teve o insight fundamental que possibilita a geometria analítica: a técnica para descrever linhas de vários tipos usando equações matemáticas envolvendo relações entre comprimentos e linhas coordenadas. Descartes não exigia que as linhas fossem perpendiculares entre si. Ele não previa substituir as construções geométricas por fórmulas algébricas, mas via a geometria como a ciência matemática básica, considerando suas técnicas algébricas uma extensão das construções com régua e compasso. Quando o sistema de coordenadas da geometria algébrica foi posteriormente desenvolvido, o nome “coordenadas cartesianas” foi dado em homenagem à descoberta de Descartes.
Descartes deixou Breda em 1619 para se juntar ao exército católico de Maximiliano I, Duque da Baviera e aliado da França. A guerra envolvia a autoridade de Fernando II, um católico que, em setembro, fora coroado imperador do Sacro Império Romano. Descartes participou da coroação e, enquanto voltava para o exército, foi surpreendido pelo inverno em uma pequena cidade chamada Ulm (ou talvez Neuburg), perto de Munique. Na noite de 10 de novembro de 1619, ele teve três sonhos que lhe pareceram fornecer uma missão de vida. Esses sonhos eram complexos e interessantes, e Descartes interpretou a mensagem deles como uma instrução para reformar todo o conhecimento. Decidiu começar pela filosofia, já que os princípios das outras ciências deveriam ser derivados dela.
Descartes era familiarizado tanto com a filosofia tradicional quanto com os inovadores recentes (aqueles que rejeitavam aspectos da filosofia de Aristóteles), graças à sua educação e às leituras que realizou a partir de 1620. Em 1640, ele recordou ter lido várias obras de filosofia por volta de 1620, escritas por conhecidos comentaristas jesuítas de Aristóteles, como Francisco Toledo, Antonio Rubio e os comentadores de Coimbra. Também mencionou um resumo da filosofia escolástica por Eustace de Saint Paul, publicado em 1609. Em 1638, Descartes lembrou-se de ter lido a obra De Sensu Rerum de Tommaso Campanella, cerca de quinze anos antes, sem grande impressão. Ele também conseguiu citar os nomes de inovadores da filosofia, como Bernardino Telesio, Giordano Bruno, Lucilio Vanini e Sébastien Basson. A partir dessas fontes, adquiriu noções filosóficas básicas, como a ideia aristotélica de que substâncias são caracterizadas por essências que determinam as propriedades que elas devem ter para serem o que são. Também viu as primeiras tentativas de reviver o atomismo e de desafiar a noção de formas substanciais.
As atividades de Descartes no início dos anos 1620 não estão bem documentadas. Ele esteve na França parte do tempo, visitando Poitou para vender algumas propriedades herdadas em 1622 e também visitando Paris. Foi à Itália entre 1623 e 1625, e, ao retornar, viveu em Paris, onde manteve contato com matemáticos e filósofos naturais do círculo de seu amigo de longa data, Marin Mersenne. Durante esse período, Descartes trabalhou em problemas matemáticos e derivou a lei dos senos da refração, o que facilitou seu trabalho em formular matematicamente as formas das lentes, posteriormente publicado em Dióptrica. Seu principal esforço filosófico durante esses anos foi nas Regras.
Nas Regras, Descartes buscou generalizar os métodos da matemática para fornecer um caminho para o conhecimento claro de tudo o que os seres humanos podem saber. Seu conselho metodológico incluía uma sugestão familiar aos estudantes de geometria: dividir o trabalho em pequenos passos que pudessem ser completamente compreendidos e verificados com absoluta certeza. Ele também deu conselhos ao buscador ambicioso da verdade, sobre onde começar e como progredir em direção a questões mais complexas. Por exemplo, a Regra 10 afirmava: “Para adquirir discernimento, devemos exercitar nossa inteligência investigando o que os outros já descobriram e examinar metodicamente até os produtos mais insignificantes da habilidade humana, especialmente aqueles que demonstram ordem”. Como exemplos de “artes simples, nas quais prevalece a ordem”, ele mencionou a fabricação de tapetes, bordados, jogos de números e jogos aritméticos. Continuou discutindo os papéis das “faculdades cognitivas” na aquisição de conhecimento, como o intelecto, a imaginação, a percepção sensorial e a memória. Essas faculdades permitiam ao buscador do conhecimento combinar verdades simples para resolver problemas complexos, como em ótica, ou descobrir o funcionamento de um ímã.
Ao final de 1628, Descartes abandonou o trabalho nas Regras, tendo completado cerca de metade do tratado planejado. Ele se mudou para os Países Baixos, voltando à França apenas ocasionalmente antes de se mudar para a Suécia em 1649. Enquanto esteve nos Países Baixos, tentou manter seu endereço em segredo e mudava de localização com frequência, seguindo seu lema: “Quem vive bem oculto, vive bem”.
Virada metafísica e o Discurso sobre o método
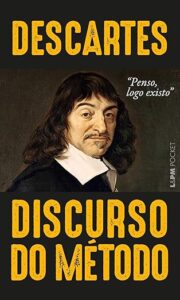
O tempo de Descartes na Holanda marcou um período crucial para seu desenvolvimento intelectual, levando a avanços significativos tanto na metafísica quanto na filosofia natural. Após se estabelecer em Franeker, em 1629, ele começou seus estudos focando na ciência matemática e na metafísica. Suas investigações sobre a existência de Deus e da alma estabeleceram a base para seus trabalhos posteriores em metafísica, particularmente sua afirmação de que entender Deus e o ser humano fornecia o fundamento para a física. Essa “virada metafísica” tornou-se central em seus trabalhos posteriores, especialmente nas Meditações, onde princípios metafísicos se entrelaçaram com sua filosofia da natureza.
Nesse período, Descartes também começou a desenvolver uma filosofia natural abrangente. Um ponto de virada foi sua tentativa de explicar o fenômeno dos parélios (sóis falsos), o que o levou a elaborar um projeto ambicioso para explicar todos os fenômenos naturais através de uma teoria unificada da matéria. Esse projeto eventualmente se tornou O Mundo, que delineou uma visão mecanicista do universo. Descartes postulava que o mundo físico consistia em partículas de formas e tamanhos variados, movendo-se de acordo com leis fixas de movimento, todas governadas por Deus. Sua física era caracterizada pela rejeição dos conceitos aristotélicos, como “formas substanciais” e “qualidades reais”, que explicavam os corpos naturais através de princípios metafísicos que ele considerava desnecessários.
Em 1637, Descartes publicou Discurso sobre o Método, onde contou sua trajetória filosófica e apresentou uma amostra de sua nova filosofia. Este trabalho, juntamente com ensaios sobre dióptrica e meteorologia, expôs suas ideias sobre o dualismo mente-corpo e a natureza da matéria, embora fosse menos radical em seu ceticismo do que suas Meditações posteriores. Seu objetivo era alcançar um público mais amplo e evitar a controvérsia que um ataque direto ao aristotelismo escolástico poderia provocar.
A Meteorologia de Descartes expandiu sua teoria corpuscular, que argumentava que toda matéria era composta de partículas divisíveis, rejeitando o vazio do atomismo antigo. Ele explicou fenômenos naturais, como vapores e padrões climáticos, sem referência às qualidades aristotélicas. A obra também sugeria sua rejeição à crença escolástica de que as qualidades sensoriais (como a cor) se assemelhavam às suas causas na natureza. Para Descartes, sensações como a cor eram resultado de interações físicas que não se assemelhavam às qualidades que representavam, distanciando ainda mais sua filosofia das explicações aristotélicas tradicionais.
Apesar de sua cautela em evitar confrontos diretos com o escolasticismo, as obras de Descartes, particularmente o Discurso, geraram discussões e desafios em relação à sua rejeição das formas substanciais, seu dualismo e sua metodologia científica. Sua crescente proeminência atraiu tanto seguidores quanto críticos, marcando o início de sua influência na formação da filosofia moderna.
Em sua vida pessoal, Descartes teve uma filha, Francine, em 1635, com sua governanta Helena Jans. A morte de Francine em 1640 o entristeceu profundamente, uma perda que humanizou o filósofo, geralmente visto como mais distante, durante esse período crucial de sua carreira intelectual.
A metafísica
Em uma carta de 13 de novembro de 1639, Descartes escreveu a Mersenne que estava “trabalhando em um discurso no qual tento esclarecer o que escrevi até agora” sobre metafísica (2:622). Este discurso era as Meditações, e, presumivelmente, ele estava revisando ou reformulando o tratado em latim de 1629 e elaborando sobre o Discurso IV. Ele disse a Mersenne sobre seu plano de fornecer a obra a “vinte ou trinta teólogos mais eruditos” para avaliar suas respostas antes da publicação. No final, ele e Mersenne coletaram sete conjuntos de objeções às Meditações, que Descartes publicou junto com a obra, além de suas réplicas (1641, 1642). Algumas objeções foram feitas por teólogos anônimos, repassadas por Mersenne; um conjunto veio do padre holandês Johannes Caterus; outro do filósofo jesuíta Pierre Bourdin; outros foram de Mersenne, dos filósofos Pierre Gassendi e Thomas Hobbes, e do filósofo-teólogo católico Antoine Arnauld.
Lembre-se de que Descartes considerava as Meditações como contendo os princípios de sua física. No entanto, não há uma Meditação intitulada “princípios de física”. Os princípios em questão, espalhados pela obra, dizem respeito à natureza da matéria, à atividade de Deus na criação e conservação do mundo, à natureza da mente (como sendo uma substância pensante e não extensa), à união e interação entre mente e corpo e à ontologia das qualidades sensoriais.
Uma vez que Descartes havia apresentado sua metafísica, ele se sentiu livre para ir além das amostras publicadas de sua física e apresentar sua concepção completa da natureza. Mas primeiro ele precisava “ensiná-la a falar latim” (3:523), a língua franca do século XVII (lembre-se de que O Mundo estava em francês). Ele elaborou um plano para publicar uma versão em latim de sua física (Os Princípios), acompanhada por uma obra escolástica aristotélica sobre física, para que as vantagens comparativas ficassem evidentes. Ele escolheu a Summa philosophiae de Eustace de São Paulo. Essa parte de seu plano nunca se concretizou. Seu objetivo permaneceu o mesmo: ele desejava produzir um livro que pudesse ser adotado nas escolas, até mesmo em escolas jesuítas, como La Flèche (3:233, 523; 4:224). Eventualmente, sua física foi ensinada na Holanda, França, Inglaterra e partes da Alemanha. Nos países católicos, o ensino de sua filosofia foi dificultado quando suas obras foram colocadas no Índice de Livros Proibidos em 1663, embora seus seguidores na França, como Jacques Rohault (1618–1672) e Pierre Regis (1632–1707), continuassem a promover a filosofia natural de Descartes.
Os Princípios foram publicados em latim em 1644, com uma tradução para o francês em 1647. Descartes adicionou à tradução uma “Carta do Autor” como prefácio. A carta explicava aspectos importantes de sua atitude em relação à filosofia, incluindo a visão de que, em questões filosóficas, é necessário raciocinar através dos argumentos e avaliá-los por conta própria (9B:3). Ele também apresentou uma imagem das relações entre as várias partes da filosofia, na forma de uma árvore:
Assim, toda a filosofia é como uma árvore. As raízes são a metafísica, o tronco é a física, e os ramos que emergem do tronco são todas as outras ciências, que podem ser reduzidas a três principais: medicina, mecânica e moral. Por “moral” entendo o mais elevado e perfeito sistema moral, que pressupõe um conhecimento completo das outras ciências e é o nível máximo de sabedoria. (9B:14)
Os Princípios que chegaram até nós apresentam a metafísica na Parte I; os princípios gerais da física, sob a forma de sua teoria da matéria e leis do movimento, como uma derivação da metafísica, na Parte II; a Parte III trata dos fenômenos astronômicos; e a Parte IV aborda a formação da Terra e procura explicar as propriedades dos minerais, metais, ímãs, fogo e afins, com apêndices que discutem como os sentidos operam e uma discussão final sobre questões metodológicas na filosofia natural. Seu objetivo também incluía explicar em profundidade as origens das plantas e animais, a fisiologia humana, a união e a interação entre mente e corpo, e a função dos sentidos. (Descartes e seus seguidores incluíam, de várias maneiras, tópicos sobre a natureza da mente e a interação mente-corpo dentro da física ou filosofia natural, sobre o que, ver Hatfield 2000.) No fim, ele teve que abandonar a discussão sobre plantas e animais (Princ. IV.188), mas incluiu alguma discussão sobre a união mente-corpo em seu relato abreviado dos sentidos.
Controvérsias teológicas e morte
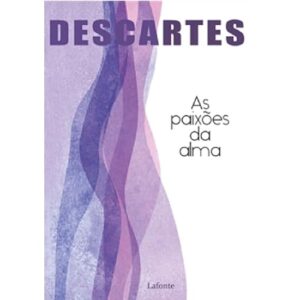
Desde o início de sua correspondência com Mersenne, Descartes expressou preocupação em evitar se envolver em controvérsias teológicas ou ganhar a inimizade das autoridades da igreja (1:85–6, 150, 271). Além de tais preocupações prudenciais, ele separou estritamente as doutrinas teológicas baseadas na fé (por exemplo, a trindade) de suas alegações sobre Deus baseadas unicamente na razão (Corr. 1:44, 150, 153; 4:117). Descartes era católico romano, mas está claro que o Deus de sua metafísica é não denominacional, tendendo para o deísmo. Se Descartes fosse totalmente consistente, não faria alegações sobre os planos de Deus ou seus atos providenciais, e não haveria milagres em seu mundo (Luz VII, 11:48; Princ. III.2–3; veja também Corr. 2:558, 3:214).
Apesar de suas precauções, ele foi puxado para a controvérsia teológica com os jesuítas devido ao conjunto de objeções de Bourdin, o que o levou a escrever ao Padre Dinet, superior de Bourdin, para acalmar quaisquer temores de que a filosofia de Descartes causasse dificuldades teológicas (7:581). Ele também se viu envolvido em controvérsia teológica com teólogos calvinistas na Holanda. No final da década de 1630, Henry le Roy (1598–1679), ou Regius, um professor de medicina em Utrecht, ensinou o sistema de filosofia natural de Descartes. Já em 1640, Gisbertus Voetius (1589–1676), um teólogo em Utrecht, expressou seu desagrado com isso a Mersenne (3:230). A controvérsia se intensificou, e Descartes incluiu um ataque a Voetius na Carta a Dinet. Voetius, como reitor da Universidade, convenceu o senado da faculdade a condenar a filosofia de Descartes (e Regius) em 1642. Ele e seus colegas atacaram Descartes em disputas em 1642 e em um livro de Martin Schoock (1643), ao qual Descartes respondeu com uma Carta a Voetius (1643). A controvérsia permaneceu em ebulição. Descartes acabou tendo desavenças com Regius, que publicou um manifesto que se desviava da teoria da mente humana de Descartes. Descartes respondeu com seus Comentários sobre um Certo Manifesto (1648). Em 1648, ele redigiu uma resposta adicional aos ataques contínuos de Voetius, publicada em 1656 (Querela apologética).
Na metade da década de 1640, Descartes continuou o trabalho em seu sistema fisiológico, que havia perseguido ao longo da década de 1630. Ele permitiu que o manuscrito não publicado do Tratado do Homem fosse copiado (4:566–7) e começou um novo trabalho (5:112), Descrição do Corpo Humano, no qual buscou explicar o desenvolvimento embrionário dos corpos animais. Durante esse período, ele se correspondeu com a princesa Elisabeth da Boêmia (filha de Frederico V, um protestante e brevemente rei da Boêmia), que agora vivia na Holanda, inicialmente sobre tópicos metafísicos das Meditações e depois sobre as paixões e emoções. Eventualmente, ele escreveu as Paixões da Alma (1649), uma teoria abrangente e original das paixões e emoções que apresentou o relato mais extenso de sua fisiologia comportamental publicado durante sua vida.
Em 1649, Descartes aceitou o convite da rainha Cristina da Suécia para se juntar à sua corte. A pedido dela, ele compôs os Estatutos da Academia Real Sueca. No dia em que os entregou a ela, ficou doente. Ele nunca se recuperou e morreu em 11 de fevereiro de 1650.
Desenvolvimentos filosóficos
Em geral, é raro que as posições e argumentos de um filósofo permaneçam constantes ao longo de toda sua vida. Isso implica que, ao ler as obras de filósofos e reconstruir seus argumentos, deve-se atentar para a posição de cada obra no desenvolvimento filosófico do autor.
Os leitores de Immanuel Kant, por exemplo, reconhecem a distinção fundamental entre seus períodos crítico e pré-crítico. Os leitores de G. W. Leibniz também estão cientes do desenvolvimento de sua filosofia, embora, em seu caso, haja menos consenso sobre um esquema de desenvolvimento.
Diversos estudiosos propuseram esquemas para dividir a vida de Descartes em períodos. Este texto adota uma divisão relativamente simples entre a era em que a matemática servia de modelo para seu método (nas Regras) e o período posterior à “virada metafísica” de 1629, quando sua concepção do papel do intelecto na aquisição de conhecimento mudou, privilegiando intuições puramente intelectuais. Nesse momento, ele também reconheceu que a veracidade de suas hipóteses específicas na filosofia natural era menos que certa e, portanto, precisava ser confirmada por meio de suas consequências (como mencionado na Sec. 1.3, acima).
Assim, ele adotou o que hoje chamamos de esquema hipotético-dedutivo de confirmação, mas com uma diferença: o leque de hipóteses era limitado por suas conclusões metafísicas sobre as essências da mente e da matéria, sua união e o papel de Deus na criação e conservação do universo. Consequentemente, algumas hipóteses, como as “formas substanciais” dos escolásticos, foram descartadas. Diferenças argumentativas entre O Mundo, o Discurso e as Meditações e Princípios podem, então, ser atribuídas ao fato de que, nos anos 1630, Descartes ainda não havia apresentado sua metafísica completa e, portanto, adotava um modo empírico de justificação até mesmo para os primeiros princípios de sua física, enquanto, após 1641, ele recorria à sua metafísica publicada para assegurar esses princípios.
Outros estudiosos veem a questão de forma diferente. John Schuster (1980) observa que a epistemologia das Regras perdurou até os anos 1630 e foi substituída (infelizmente, segundo sua visão) apenas pela busca metafísica de certeza nas Meditações. Daniel Garber (1992, 48) também sustenta que Descartes abandonou seu método inicial apenas após o Discurso.
Em contraste, Peter Machamer e J. E. McGuire (2006) acreditam que Descartes manteve a filosofia natural no padrão de certeza absoluta até as Meditações, mas admitiu derrota nesse aspecto ao final dos Princípios IV, adotando um padrão de certeza inferior para suas hipóteses particulares (como a explicação do magnetismo por partículas em forma de saca-rolhas). Eles veem os Princípios como marcando a “virada epistêmica” de Descartes, distanciando-se da postura metodológica de realismo acerca do conhecimento intuitivo de substâncias, que eles encontram nas Regras, no Discurso e nas Meditações.
Alguns estudiosos que enfatizam a epistemologia consideram que a principal mudança no desenvolvimento intelectual de Descartes é a introdução de argumentos céticos no Discurso e nas Meditações. Alguns intérpretes, talvez inspirados por Richard Popkin (1979), acreditam que Descartes levou a ameaça cética ao conhecimento muito a sério e procurou superá-la nas Meditações (e.g., Curley 1978).
Em contraste, na linha interpretativa seguida aqui, os argumentos céticos foram uma ferramenta cognitiva usada para guiar o leitor das Meditações ao estado mental adequado para apreender as primeiras verdades da metafísica. A resposta ao ceticismo foi um efeito colateral desse objetivo fundamental.
Outras interpretações do desenvolvimento de Descartes surgiram de uma nova atenção às dimensões biológicas e fisiológicas de seu pensamento. Um elemento-chave é o fascínio de Descartes pelos autômatos mecânicos e seu uso da noção de máquina para caracterizar os seres vivos (O Homem 11:119–20, 130–31; Med. VI, 7:84).
Mais uma vez, a mudança fundamental ocorre logo após as Regras; não é uma “virada metafísica”, mas uma virada em direção aos autômatos como modelos para o comportamento humano e animal. Essas interpretações se conectam à nova teoria da percepção de Descartes (Ben-Yami 2015) ou à sua investigação de objetos comuns e seres vivos como unidades coerentes (Brown e Normore 2019; ver também Des Chene 2001).
Uma nova metafísica e uma nova epistemologia
Descartes apresentou sua metafísica primeiramente nas Meditações e, em seguida, em formato de manual, no Princípios I. Sua metafísica buscava responder a questões como: de que modo a mente humana adquire conhecimento? Qual é o critério da verdade? Qual é a verdadeira natureza da realidade? Como nossas experiências mentais se relacionam com nossos corpos e cérebros? Existe um Deus benevolente e, em caso afirmativo, como podemos reconciliar sua existência com os fatos de doença, erro e ações imorais?
Como nossa mente sabe o que sabe?
Descartes não tinha dúvida de que os seres humanos conhecem algumas coisas e são capazes de descobrir outras, incluindo (pelo menos desde seus insights metafísicos de 1629) verdades fundamentais sobre a estrutura básica da realidade. Contudo, ele também acreditava que os métodos filosóficos ensinados nas escolas e usados pela maioria de seus contemporâneos apresentavam sérias falhas. Dessa forma, as doutrinas da filosofia aristotélica escolástica continham um erro fundamental sobre como se obtêm verdades básicas, como as da metafísica. Ele articulou esse erro na Primeira Meditação, afirmando (não em sua própria voz, mas na voz do leitor): “Tudo o que até agora aceitei como sendo o mais verdadeiro eu adquiri pelos sentidos ou por meio dos sentidos” (7:18). Em seguida, ele desafiou a veracidade dos sentidos com os argumentos céticos da Primeira Meditação, incluindo o argumento do sonho (de que podemos experimentar imagens sensoriais durante o sonho que são indistinguíveis da experiência em vigília) e o argumento de que um Deus enganador ou um maligno enganador pode estar causando nossa experiência sensorial ou nos levando a erros mesmo ao raciocinar.
No esquema aristotélico contra o qual Descartes se posicionava, todo conhecimento surge através dos sentidos, em conformidade com o lema “Nada está no intelecto que não tenha estado previamente nos sentidos” (7:75, 267). Da mesma forma, os aristotélicos escolásticos ortodoxos concordavam que “não há pensamento sem um fantasma” ou imagem. Descartes explicava essas convicções como resultado de preconceitos adquiridos na infância (7:2, 17, 69, 107; Princ. I.71–3). Quando crianças, somos naturalmente guiados pelos sentidos na busca de benefícios e na evitação de danos corporais. Como resultado, quando nos tornamos adultos, estamos “imersos” no corpo e nos sentidos e, assim, aceitamos a visão filosófica de que os sentidos revelam a natureza da realidade (7:38, 75, 82–3).
Embora Descartes, por fim, aceitasse os sentidos como fonte de certos tipos de conhecimento, ele negava que estes revelassem a natureza das substâncias (7:83). Em vez disso, o intelecto humano apreende a natureza da realidade por meio da percepção puramente intelectual. Isso implica que, para alcançar as verdades fundamentais da metafísica, é necessário “afastar a mente dos sentidos” (7:4, 12, 14) e voltar-se para nossas ideias inatas sobre as essências das coisas, incluindo as essências da mente, da matéria e de um ser infinito (Deus). Descartes construiu as Meditações de modo a assegurar esse processo de afastamento dos sentidos na Meditação I. A Meditação II descobre uma verdade inicial, o cogito (7:25), resumido em outros lugares como o argumento “cogito, ergo sum” ou “penso, logo existo” (7:140). O cogito é conhecido com certeza porque é “claramente e distintamente” percebido pelo intelecto (7:35). A percepção intelectual clara e distinta, independente dos sentidos, é, portanto, o critério da verdade (7:35, 62, 73).
Descartes desenvolve uma sequência de percepções claras e distintas nas Meditações III–VI e novamente nos Princípios I–II. Esses resultados são discutidos nas Seções 3.3–3.5. Por ora, vamos examinar as reflexões de Descartes sobre os sentidos como uma fonte de conhecimento, diferente do puro intelecto.
A conclusão de Descartes na Meditação VI, de que os sentidos não revelam a “natureza essencial” dos objetos externos (7:83), difere de sua posição nas Regras. Nessa obra, ele permitia que algumas “naturezas simples” referentes às coisas corpóreas pudessem ser conhecidas através das imagens dos sentidos (10:383, 417). Nas Meditações, ele sustentava que a essência da matéria é apreendida por ideias inatas, independentemente de qualquer imagem sensorial (7:64–5, 72–3). Nesse aspecto, sua posição pós-Regras se alinha à tradição platônica na filosofia. Contudo, enquanto Platão depreciava os sentidos como fonte de conhecimento, Descartes não era um platonista completo, pois ele não desconsiderava totalmente o conhecimento sensorial.
Descartes atribuiu dois papéis aos sentidos na aquisição do conhecimento humano. Em primeiro lugar, ele reconheceu que os sentidos são geralmente adequados para detectar benefícios e danos ao corpo. A função natural dos sentidos é “informar a mente sobre o que é benéfico ou prejudicial para o composto do qual a mente faz parte” (7:83), isto é, para o composto de mente e corpo. Aqui, ele adotou uma concepção amplamente aceita da função sensorial dentro da filosofia natural, também presente nas literaturas aristotélica e médica.
Em segundo lugar, ele reconheceu um papel essencial dos sentidos na filosofia natural. Em algumas literaturas interpretativas mais antigas, acredita-se que Descartes reivindicava derivar todo o conhecimento filosófico-natural ou científico do intelecto puro, independente dos sentidos. No entanto, Descartes sabia muito bem que isso não era possível. Ele distinguiu entre os princípios gerais de sua física e os mecanismos mais específicos pelos quais explicava fenômenos naturais, como o magnetismo ou as propriedades do óleo e da água. Descartes afirmava derivar os princípios gerais “de certas sementes de verdade” que são inatas na mente (Discurso, 6:64). Esses princípios incluem a doutrina fundamental de que a essência da matéria é a extensão (Princ. II.3–4, IV.203). Para fenômenos específicos, ele recorria a observações para determinar suas propriedades (como as propriedades do ímã) e reconhecia que múltiplas hipóteses sobre mecanismos subvisíveis poderiam ser formuladas para explicar esses fenômenos. O filósofo natural deve, portanto, testar as várias hipóteses por meio de suas consequências e considerar virtudes empíricas, como simplicidade e abrangência (Discurso, VI; Princ. IV.201–6). Além disso, Descartes sabia que alguns problemas exigem medições que dependem dos sentidos, como a determinação do tamanho do Sol (Med. 7:80, Princ. III.5–6) ou os índices de refração de diversos materiais (Met. VIII).
Embora Descartes reconhecesse um papel importante para os sentidos na filosofia natural, ele limitava esse papel em comparação com a epistemologia aristotélica. Muitos aristotélicos escolásticos sustentavam que todo conteúdo intelectual surge por meio de um processo de abstração intelectual que começa a partir de imagens sensoriais encontradas na faculdade da imaginação. Objetos matemáticos, por exemplo, são formados por abstração dessas imagens, e até mesmo a metafísica se baseia em conhecimento derivado por abstração a partir de imagens. Naturalmente, acreditavam que o intelecto desempenha um papel crucial ao abstrair objetos matemáticos ou as essências das coisas naturais. Em contraste, Descartes afirmava que as verdades da matemática e da metafísica são apreendidas pelo intelecto puro, que opera independentemente dos sentidos e sem assistência da imaginação.
Quanto ao conhecimento, Descartes aceitava que, para conhecer algo, é necessário não apenas representá-lo como verdadeiro (por exemplo, “a essência da matéria é a extensão”), mas também afirmar sua verdade com alguma justificativa. Em seu esquema das capacidades mentais, o intelecto, enquanto faculdade de representação, oferece o conteúdo para o juízo. Uma segunda faculdade mental, a vontade (Med. IV, Princ. I.32–4), afirma ou nega a verdade desse conteúdo (por exemplo, afirma que a essência da matéria é a extensão).
Nem todo conteúdo derivado da faculdade intelectual é “puro”. O conteúdo puramente intelectual surge de ideias inatas sem qualquer processo cerebral concomitante. Outros atos intelectuais exigem a presença do corpo: percepção sensorial, imaginação e memória corpórea (envolvendo o corpo). O conteúdo desses atos é menos claro e distinto do que o do intelecto puro e pode, de fato, ser obscuro e confuso (como ocorre com as sensações de cor). No entanto, a vontade pode afirmar ou negar esse conteúdo intelectual. Com percepções puramente intelectuais claras e distintas, a vontade tem justificativa para afirmar sua verdade. (Como discutido na subseção seguinte, não pode haver erro nesses julgamentos.) Para menores graus de clareza e distinção, é preciso cautela naquilo que a vontade afirma (Med. IV, Princ. I.66–70, IV.205–6). (Veja Newman 2019.)
Em resumo, ao considerar a resposta de Descartes sobre como conhecemos, as classes de conhecimento diferem no grau de certeza esperada. Os primeiros princípios metafísicos, conhecidos pelo intelecto agindo sozinho, devem atingir uma certeza absoluta. O conhecimento prático sobre benefícios e danos imediatos é apreendido pelos sentidos. Esse tipo de conhecimento não precisa atingir certeza absoluta; mesmo assim, geralmente é preciso o suficiente. Os objetos das ciências naturais são conhecidos por meio de uma combinação de intelecto puro e observação sensorial: o intelecto puro nos informa sobre as propriedades que os corpos podem ter, enquanto utilizamos os sentidos para determinar quais instâncias específicas dessas propriedades os corpos possuem. Para partículas submicroscópicas, devemos raciocinar dos efeitos observados em direção a uma causa potencial. Nesses casos, nossas medições e inferências podem estar sujeitas a erro, mas, com cuidado, podemos esperar chegar à verdade.
A marca da verdade e o círculo
No início da Terceira Meditação, Descartes afirma: “Agora pareço poder estabelecer como regra geral que tudo o que percebo de maneira muito clara e distinta é verdadeiro” (7:35). Assim, a clareza e a distinção na percepção intelectual constituem o critério da verdade.
No quinto conjunto de Objeções às Meditações, Gassendi levanta uma dificuldade a esse respeito:
“Que habilidade ou método nos permitirá descobrir que nossa compreensão é tão clara e distinta a ponto de ser verdadeira e tornar impossível que sejamos enganados? Como objetei no início, muitas vezes somos enganados mesmo quando pensamos conhecer algo com o maior grau possível de clareza e distinção” (7:318).
Gassendi, portanto, questiona como reconhecer percepções claras e distintas. Se clareza e distinção são marcas da verdade, qual seria o método para identificá-las?
Em resposta, Descartes afirma já ter fornecido tal método (7:379). No entanto, esse critério não pode se basear simplesmente na crença subjetiva de que se alcançou clareza e distinção, pois o próprio Descartes reconhece que indivíduos podem estar equivocados nessa crença (7:35, 361). Ele propõe, então, um critério objetivo: temos uma percepção clara e distinta quando, ao considerá-la, não conseguimos duvidar dela (7:145). Ou seja, diante de uma percepção verdadeiramente clara e distinta, a afirmação correspondente se impõe de maneira tão firme que nem mesmo um esforço deliberado para colocá-la em dúvida é capaz de abalá-la.
Conforme discutido na Seção 3.1, Descartes sustenta que todo ato de julgamento – como a afirmação “penso, logo existo” – envolve tanto o intelecto quanto a vontade. O intelecto apreende ou representa o conteúdo do julgamento; a vontade, por sua vez, o afirma ou o nega. No caso de percepções genuinamente claras e distintas, “uma grande luz no intelecto” é acompanhada por “uma grande inclinação da vontade” (7:59). Essa inclinação é de tal modo intensa que assume caráter de compulsão: não podemos deixar de afirmar aquilo que percebemos com clareza e distinção.
Para Descartes, a convicção inabalável constitui o critério da percepção clara e distinta. No entanto, poderia alguém sustentar uma convicção inabalável apenas por teimosia? Sem dúvida. Mas Descartes se refere a uma convicção que permanece inabalável mesmo diante de desafios rigorosos e bem fundamentados (7:22). Ser imune à dúvida não significa apenas não duvidar de uma proposição ou resistir a uma tentativa momentânea de questioná-la; a verdadeira marca da verdade reside no fato de que o conteúdo de uma proposição é percebido com tamanha clareza que a vontade é levada a afirmá-lo de forma tão resoluta que essa afirmação não pode ser abalada, nem mesmo por um processo sistemático e sustentado de dúvida, como aquele conduzido nas Meditações.
Talvez por reconhecer que o caminho para o conhecimento das verdades fundamentais exige uma dúvida metódica e sistemática, Descartes sugira que esse processo deva ser empreendido apenas uma vez ao longo da vida (7:18; 3:695).
Ainda assim, persistem problemas. Após estabelecer a clareza e a distinção como critério da verdade no início da Terceira Meditação, Descartes imediatamente coloca esse critério em questão. Ele reintroduz um elemento da dúvida radical apresentada na Primeira Meditação: a possibilidade de que um Deus poderoso possa tê-lo criado com “uma natureza tal que eu fosse enganado mesmo nas questões que me parecem mais evidentes” (7:36). Dessa forma, Descartes inicia uma investigação sobre “se há um Deus e, caso exista, se ele pode ser um enganador” (7:36).
No decorrer da Terceira Meditação, Descartes elabora um argumento para a existência de Deus, partindo da ideia de um ser infinito. Esse argumento é complexo e recorre ao princípio metafísico segundo o qual “deve haver pelo menos tanta realidade na causa eficiente e total quanto no efeito dessa causa” (7:40). Esse princípio é apresentado como algo “manifesto pela luz natural” (7:40), que, por sua vez, é descrita como uma faculdade cognitiva cujos resultados são indubitáveis (7:38), à semelhança da percepção clara e distinta (7:144).
Descartes aplica esse princípio não apenas à existência da ideia de Deus como um estado mental, mas ao conteúdo dessa ideia. Ele caracteriza esse conteúdo como infinito e argumenta que uma ideia que representa a infinitude requer um ser infinito como sua causa. A partir disso, conclui que um ser infinito, isto é, Deus, deve existir. Ele então equipara um ser infinito a um ser perfeito e questiona se um ser perfeito poderia ser enganador. Sua resposta é negativa:
“É suficientemente claro que ele não pode ser enganador, pois é manifesto pela luz natural que toda fraude e engano dependem de algum defeito” (7:52).
(Se a transição da infinitude para a perfeição parecer problemática, é importante considerar que, no sistema filosófico cartesiano, perfeito significa completo, e a infinitude é o grau máximo de completude.)
Os segundo e quarto conjuntos de objeções chamaram atenção para uma característica problemática desse argumento.
Arnauld levanta aqui o famoso problema do círculo cartesiano, amplamente discutido nos últimos anos. Ele questiona como Descartes evita um raciocínio circular ao afirmar que somente podemos ter certeza da verdade das percepções claras e distintas porque Deus existe, mas só podemos ter certeza da existência de Deus porque o percebemos claramente e distintamente. Dessa forma, antes de termos certeza da existência de Deus, deveríamos primeiro ser capazes de garantir que tudo o que percebemos com clareza e evidência é verdadeiro (7:214).
Em resposta, Descartes afirma que evita esse problema ao distinguir entre percepções claras e distintas no momento presente e aquelas que são apenas lembradas (7:246). Ele não está, nesse caso, questionando a confiabilidade da memória (Frankfurt, 1962). Sua estratégia consiste em argumentar que a hipótese de um Deus enganador só pode surgir quando não estamos percebendo clara e distintamente a infinitude e a perfeição de Deus, pois, quando o fazemos, não conseguimos deixar de acreditar que Deus não é um enganador. Trata-se, portanto, de contrapor essa percepção evidente à opinião incerta de que Deus poderia ser um enganador (7:144). Segundo Descartes, a percepção evidente prevalece e a dúvida se dissipa.
Os estudiosos têm debatido se essa resposta é realmente satisfatória. Alguns autores formularam respostas alternativas em nome de Descartes ou as identificaram implicitamente em seus escritos. Uma abordagem baseia-se na distinção entre luz natural e percepção clara e distinta, buscando validar a luz natural sem recorrer à existência de Deus (Jacquette, 1996). Outra resposta sugere que Descartes, em última instância, não estava buscando uma certeza metafísica sobre um mundo independente da mente, mas sim um conjunto de crenças internamente coerente (Frankfurt, 1965). Uma posição relacionada propõe que o objetivo cartesiano era apenas atingir uma certeza psicológica (Loeb, 1992).
Para uma investigação mais aprofundada sobre essa questão, recomenda-se a leitura das obras citadas, bem como dos trabalhos de Carriero (2008), Doney (1987), Hatfield (2006) e Newman (2019).
Com base em sua afirmação de que as percepções claras e distintas são verdadeiras, Descartes busca estabelecer diversas conclusões sobre a natureza da realidade, incluindo a existência de um Deus perfeito e as essências da mente e da matéria (analisadas mais detalhadamente na Seção 3.3). Aqui, surge uma questão fundamental: o que é a mente humana, para que possa perceber a natureza da realidade?
Para Descartes, a mente humana vem dotada de ideias inatas, que lhe permitem apreender as principais propriedades de Deus (infinitude e perfeição), bem como a essência da matéria e a essência da mente. Para os leitores da época, essa concepção naturalmente levantava um problema adicional: se essas ideias inatas dizem respeito a “verdades eternas” sobre Deus, a matéria e a mente, tais verdades existem independentemente de Deus ou derivam do conteúdo original do intelecto divino?
Descartes rejeitou ambas as alternativas. Ele negava, como muitos de seus contemporâneos, que pudesse haver verdades eternas independentes da existência de Deus. No entanto, também discordava daqueles que sustentavam que tais verdades estariam fixadas no intelecto divino. Alguns filósofos neoplatônicos sustentavam que as verdades eternas na mente humana seriam cópias (éctipos) dos arquétipos contidos na mente de Deus. Já filósofos aristotélicos anteriores a Descartes, como Francisco Suárez (1548–1617), argumentavam que as verdades eternas refletem o próprio entendimento divino sobre seu poder criador. Para essa visão, o poder de Deus inclui o princípio de que, se ele cria um coelho, esse deve ser um animal. Assim, as verdades eternas estariam latentes no poder criador de Deus, e seu conhecimento por parte dos humanos dependeria do conhecimento desse poder, algo que talvez ultrapassasse a capacidade humana (Hatfield, 1993).
A posição de Descartes é distinta. Ele sustenta que as verdades eternas são criações livres de Deus (Corr. 1:145, 149, 151; Med. 7:380, 432), originando-se dele de modo indissociável de seu poder, vontade e intelecto. Assim, Deus decide o que constitui a essência do círculo ou que 2 + 3 = 5. Embora pudesse ter criado outras essências, não somos capazes de concebê-las. Nossa capacidade conceitual está limitada às ideias inatas implantadas por Deus, que refletem as verdades efetivamente criadas por ele.
Segundo esse modelo, Deus cria as verdades eternas (relativas à lógica, à matemática, à moral, às essências da mente e da matéria) e também cria a mente humana, dotando-a de ideias inatas que correspondem a essas verdades. Contudo, mesmo dentro desse esquema, algumas verdades eternas não são criadas por Deus: aquelas que dizem respeito à própria essência divina, como sua existência e perfeição (Wells, 1982).
A natureza da realidade
Descartes revela sua ontologia de forma implícita nas seis Meditações, de modo mais formal nas Respostas às Objeções e, em estilo didático, nos Princípios (especialmente I.51–65). Os principais resultados metafísicos que descrevem a natureza da realidade afirmam a existência de três substâncias, cada uma caracterizada por uma essência. A primeira e principal substância é Deus, cuja essência é a perfeição suprema (Med. 7:46, 52, 54, 162; Princ. I.54). Na verdade, Deus é a única substância genuína, ou seja, o único ser capaz de existir por si mesmo. As outras duas substâncias — mente e matéria — são criadas por Deus e só podem existir por meio de seu contínuo ato de preservação ou conservação, chamado de “concorrência” divina (Princ. I.51).
Os argumentos de Descartes para estabelecer as essências dessas substâncias apelam diretamente à sua percepção clara e distinta dessas essências. Deus é uma substância infinita, e a ideia de Deus inclui a existência necessária (Med. III, V; Princ. I.14, 19). Descartes utilizou essa ideia de Deus para formular um argumento a favor da existência de Deus, hoje conhecido como Argumento Ontológico (ver Nolan 2021).
A essência da matéria é a extensão em comprimento, largura e profundidade. Pode-se falar aqui de “extensão espacial”, mas com a ressalva de que Descartes negava a existência de um espaço separado da matéria. A matéria cartesiana não preenche um recipiente espacial distinto; em vez disso, a extensão espacial é constituída pela própria matéria extensa (não há vazio, ou espaço não preenchido). Essa substância extensa possui os “modos” adicionais de tamanho, forma, posição e movimento. Modos são propriedades que existem apenas como modificações dos atributos essenciais ou principais de uma substância. Além de sua essência, a extensão, a matéria também possui os atributos gerais da existência e da duração temporal (que são compartilhados com a mente).
A essência da mente é o pensamento. As mentes têm como atributo principal o pensamento, dividido em dois poderes ou faculdades fundamentais já mencionados: intelecto e vontade. O poder intelectual, ou perceptivo, se divide ainda nos modos de intelecto puro, imaginação e percepção sensorial. Como mencionado na Seção 3.3, o intelecto puro opera independentemente do cérebro ou do corpo, enquanto a imaginação e a percepção sensorial requerem o corpo para funcionar. A vontade também se divide em diversos modos, como desejo, aversão, afirmação, negação e dúvida. Estes sempre requerem algum conteúdo intelectual (puro, imaginado ou sensorial) sobre o qual possam operar. Talvez por essa razão, Descartes descreve a mente como uma “substância intelectual” (Med. VI, 7:78; também 7:12). A mente possui essencialmente uma vontade, mas o poder intelectual (ou perceptivo, ou representacional) é mais básico, pois as operações da vontade dependem dele.
Qual é o papel da consciência na teoria da mente de Descartes? Muitos estudiosos acreditam que, para Descartes, a consciência é a propriedade definidora da mente (por exemplo, Rozemond 2006). Há algum apoio para essa posição nas Meditações (Segundas Respostas). Descartes define a mente como “a substância na qual o pensamento reside imediatamente” (7:161), e diz que o termo “pensamento” se estende a “tudo o que está em nós de tal forma que somos imediatamente conscientes disso” (7:160*). Se a mente é uma substância pensante e os pensamentos são essencialmente conscientes, talvez a consciência seja a essência do pensamento?
Talvez não. Descartes de fato sustentava que todos os pensamentos são, de alguma forma, conscientes (7:226), mas isso não significa que tenhamos consciência reflexiva ou notemos todos os pensamentos que temos (Corr. 5:220). Na Segunda Meditação, ele se descreve como uma coisa que pensa, enumerando todos os modos de pensamento dos quais está consciente: entender (ou intelecção), querer, imaginar e (neste ponto, ao menos parecer ter) percepções sensoriais (7:28). Ele estabelece, assim, a consciência como um sinal do pensamento. Mas seria ela sua essência? Não necessariamente. Se a percepção (intelecção, representação) for a essência do pensamento, então todos os pensamentos podem ter uma consciência básica porque o caráter da substância intelectual é representar, e qualquer representação presente numa substância intelectual está, por isso mesmo, presente na mente. Uma substância intelectual (uma mente) é uma substância perceptiva, que percebe intrinsecamente seus próprios estados. Além disso, Descartes sustentava que qualquer ato de vontade presente numa substância intelectual está, assim, disponível à consciência (Pass. I.19). (Sobre consciência e essência da mente, ver Jorgensen 2020, 2.1).
Ao distinguir entre pensamentos conscientes e pensamentos dos quais temos consciência reflexiva, Descartes permitiu a existência de pensamentos conscientes que não percebemos ou dos quais não nos lembramos. De fato, sua teoria dos sentidos admite sensações e operações mentais que passam despercebidas.
Relação mente-corpo
No Discurso, Descartes apresenta o seguinte argumento para estabelecer que mente e corpo são substâncias distintas:
Examinei atentamente o que eu era. Vi que, embora pudesse fingir que não tinha corpo, que não havia mundo algum e que não existia nenhum lugar onde eu estivesse, não podia, por isso, fingir que não existia. Pelo contrário, vi que, apenas pelo fato de pensar em duvidar da verdade das outras coisas, seguia-se de maneira clara e evidente que eu existia; ao passo que, se tivesse simplesmente deixado de pensar, mesmo que tudo o mais que tivesse imaginado fosse verdadeiro, não teria razão alguma para acreditar que eu existia. A partir disso, soube que eu era uma substância cuja essência ou natureza consistia unicamente em pensar, e que não requeria lugar algum nem dependia de coisa material alguma para existir. (6:32–3)
Esse argumento parte do fato de que ele pode duvidar da existência do mundo material, mas não pode duvidar de sua própria existência enquanto ser pensante, concluindo, então, que seus pensamentos pertencem a uma substância não espacial, distinta da matéria. Assim, Descartes afirma a independência ontológica da mente em relação ao corpo, sustentando que a mente é uma substância cuja essência é o pensamento, enquanto o corpo — ou a matéria — tem por essência a extensão.
Embora esse argumento possa garantir a existência de um pensador, ele não demonstra que esse pensador não é uma coisa material. Essa conclusão se baseia de forma falaciosa na concebilidade derivada da ignorância. Nada impede que a coisa pensante seja, na verdade, um sistema material complexo. Descartes simplesmente se apoia no fato de que pode duvidar da existência da matéria para concluir que ela é distinta da mente — um raciocínio que não se sustenta. Do fato de que o Coringa, em certo momento, não pode duvidar da existência do Batman (porque está com ele), mas pode duvidar da existência de Bruce Wayne (que, por tudo o que sabe, pode ter sido morto por seus capangas), não se segue que Bruce Wayne não seja o Batman. Na verdade, ele é o Batman. O Coringa apenas ignora esse fato.
Nas Meditações, Descartes reformulou o argumento. Na Segunda Meditação, ele novamente afirma que pode duvidar da existência da matéria, mas não de si mesmo como ser pensante. Contudo, ele explicitamente evita concluir que a mente é distinta do corpo, alegando que ainda desconhece sua própria natureza (7:27). Só na Sexta Meditação, após estabelecer, a seu ver, o critério da verdade — a clareza e distinção das percepções intelectuais — é que ele apresenta um argumento positivo: a essência da mente é o pensamento, e o ser pensante é desprovido de extensão; a essência da matéria é a extensão, e as coisas extensas não podem pensar (7:78). Esse argumento baseia-se, então, na percepção clara e distinta das essências da mente e da matéria, e não mais no simples fato de se poder duvidar de uma ou de outra.
Essa conclusão sustenta o famoso dualismo de substâncias cartesiano. Mas esse dualismo apresenta problemas. Como a princesa Isabel da Boêmia — entre outros — questionou: se a mente é inextensa e a matéria é extensa, como podem interagir? Esse problema atormentou não apenas Descartes, que admitiu a Isabel não ter uma boa resposta (3:694), mas também seus seguidores e outros metafísicos. De algum modo, mente e corpo devem estar relacionados, pois quando decidimos (ato mental) pegar um lápis, nosso braço (coisa física) se move; e quando a luz atinge nossos olhos, temos uma experiência mental do mundo visível. Mas como, exatamente, mente e corpo se relacionam?
Alguns seguidores de Descartes adotaram o ocasionalismo, segundo o qual é Deus quem media as relações causais entre mente e corpo. A mente não afeta o corpo nem o corpo afeta a mente, mas Deus proporciona à mente as sensações apropriadas conforme o estado do corpo e faz o corpo se mover ao colocá-lo no estado cerebral correto quando decidimos mentalmente agir (ver Lee 2020). Outros filósofos adotaram soluções diferentes, como o monismo de Spinoza ou a harmonia pré-estabelecida de Leibniz.
Nas Meditações e nos Princípios, Descartes não se concentrou na questão metafísica de como mente e corpo interagem. Em vez disso, abordou o papel funcional da união mente-corpo na economia da vida. As sensações nos ajudam a evitar danos e buscar benefícios. A dor nos leva a comportamentos que geralmente protegem a integridade do corpo. O prazer nos orienta para o que tende a nos fazer bem. As percepções sensoriais são suficientemente confiáveis para distinguirmos objetos importantes e para nos orientarmos no espaço. Segundo Descartes, “Deus ou a natureza” estabeleceram essas relações em nosso favor. Elas não são perfeitas — às vezes os sentidos nos enganam ou extrapolamos seus limites —, mas cumprem bem sua função prática.
Deus e o erro sensorial
Ao discutir o critério da verdade, Descartes sustentava que o intelecto humano é geralmente confiável porque Deus o criou. Ao discutir o funcionamento dos sentidos para preservar o corpo, ele explicava que Deus organizou a interação mente-corpo de modo que nossas sensações geralmente favoreçam o bem do corpo. No entanto, erros ocorrem. Nossos juízos sobre as coisas sensoriais podem ser falsos, assim como, de maneira mais ampla, os seres humanos podem fazer escolhas morais ruins mesmo que Deus lhes tenha dado uma vontade intrinsecamente voltada para o bem (Correspondência 1:366, 5:159; Princípios I.42).
Por exemplo, podemos formar o hábito, ainda na infância, de julgar — com base nas nossas sensações de cor — que a cor que experimentamos “se assemelha” a algo nos objetos (a teoria aristotélica). Uma reflexão filosófica posterior (talvez instigada pela leitura de Descartes) pode nos levar à conclusão de que esses juízos são injustificados, porque as sensações de cor não são claras e distintas, mas obscuras e confusas (Princípios I.66–70).
Em outros casos, nossas percepções sensoriais podem representar as coisas de forma diferente do que realmente são. Às vezes sentimos dor porque um nervo foi danificado em algum ponto do seu trajeto, mesmo que não haja dano no tecido onde a dor é sentida. Amputados podem sentir dor nos dedos, mesmo não os tendo mais (Princípios IV.196).
Descartes respondeu a esses erros de maneiras diferentes. Ele explicou os erros cognitivos (de julgamento) e os erros morais como resultantes da liberdade humana (Meditação IV). Deus concede aos seres humanos uma vontade, e as vontades são intrinsecamente livres. Mas temos intelectos finitos. Por sermos livres, podemos escolher julgar situações cognitivas ou morais sem ter percepções claras e distintas do verdadeiro ou do bom.
Se os seres humanos limitassem seus atos de vontade a casos em que houvesse percepção máxima de clareza e distinção, nunca errariam. Se erramos, Descartes argumenta, somos responsáveis, porque poderíamos ter restringido nossos julgamentos a assuntos sobre os quais temos certeza.
A aplicabilidade dessa solução ao caso das sensações de cor e da semelhança, contudo, não é evidente, já que talvez não tenhamos feito uma escolha reflexiva ao aceitar, ainda crianças, a ideia de que há semelhança entre a sensação e o objeto. Nesse caso, talvez só nos tornemos culpáveis depois de ler e aceitar os argumentos de Descartes de que as sensações de cor são obscuras e confusas, e aplicar esse entendimento à nossa afirmação habitual de semelhança.
A situação é diferente nos erros específicos da representação sensorial, como a localização incorreta da dor. Os sentidos dependem de meios, de órgãos sensoriais e de nervos que devem ir da parte exterior do corpo até o cérebro. Deus organizou a relação mente-corpo de forma que nossas sensações sejam boas guias na maioria das circunstâncias. Mas os meios podem ser deficientes (a luz pode estar ruim), as circunstâncias podem ser incomuns (como quando um bastão parcialmente submerso parece dobrado), ou os nervos podem estar danificados (como no caso do amputado). Nesses casos, os relatos dos sentidos são enganosos.
Dado que Deus estruturou o sistema de união mente–corpo, não deveríamos responsabilizar Deus pelo fato de os sentidos às vezes representarem erroneamente a realidade? Aqui Descartes não apela à nossa liberdade de julgamento, pois de fato muitas vezes precisamos usar os sentidos em circunstâncias cognitivas subótimas, ao navegar pela vida, sem chance de reflexão e escolha racional. Em vez disso, ele aponta que Deus estava lidando com os mecanismos finitos do corpo humano (7:88), e sugere que Deus fez o melhor possível dadas as partes necessárias para constituir essa máquina (partes extensas que podem quebrar ou sofrer perturbações incomuns). Não é culpa de Deus que uma máquina corporal bem feita ocasionalmente gere sensações enganosas.
Alguns casos de má representação sensorial são erros evidentes. Com o amputado, a dor parece estar em dedos que não existem. O conteúdo representacional (de que os dedos estão danificados) não corresponde à realidade. Da mesma forma, um bastão parcialmente submerso pode parecer dobrado. Mesmo que usemos o intelecto para interpretar a ilusão ou má representação sensorial a fim de evitar o erro — suspendendo o julgamento ou mesmo julgando corretamente (7:438) —, ainda assim é claro que houve má representação sensorial.
Em outros casos, Descartes descreve os sentidos como oferecendo material para o erro, mas permanece incerto se tal erro decorre de julgamentos injustificados com base em sensações obscuras e confusas ou de uma representação sensorial diretamente enganosa. Na Terceira Meditação, ele descreve sensações que mais tarde foram chamadas de “qualidades secundárias” (por exemplo, cores, sons, quente e frio) como “materialmente falsas”. Os estudiosos têm dificuldade em interpretar essa noção. Descartes inicialmente define falsidade material como algo que “ocorre nas ideias, quando representam não-coisas como se fossem coisas” (7:43).
Ele oferece a ideia de frio como exemplo: nossos sentidos representam o frio como uma qualidade positiva dos objetos, mas Descartes considera que o frio pode simplesmente ser a ausência de calor — e, portanto, não é uma qualidade por si só. Nesse sentido, o caso deveria ser considerado como má representação sensorial: representar as coisas de forma diferente do que são (representar o frio como uma qualidade quando é a ausência de uma).
Descartes também propõe uma explicação diferente sobre a obscuridade das ideias sensíveis. Ele admite que tais ideias podem ser “verdadeiras” no sentido de representar algo positivo nas coisas, mas que podem fazê-lo de maneira tão sutil que “a realidade que representam é tão extremamente tênue que não consigo nem distingui-la de uma não-coisa” (7:44). Assim, as ideias sensoriais não seriam representações falsas, mas tão obscuras e confusas que não conseguimos saber o que elas representam apenas considerando seu caráter experiencial — como a sensação de frio ou de cor. Nós então, precipitadamente, cometemos um erro ao julgar que as sensações de cor se assemelham às suas causas nos objetos. (A metafísica e a filosofia natural são necessárias para nos dizer o que nossas sensações de cor representam de forma obscura: propriedades das superfícies dos objetos que refletem a luz de certa forma — ver Seção 5.)
A “falsidade material” surge de representações tão obscuras que permitem espaço para julgamentos equivocados (por exemplo, sobre semelhança).
As questões em torno da noção de falsidade material em Descartes são complexas, mas reveladoras de sua teoria da mente e da representação sensorial. Um caminho de entrada na bibliografia especializada pode ser encontrado em Wee (2006), Brown (2006, cap. 4) e Hatfield (2013).
Obras de Descartes
- Regras para a Direção do Espírito (1628);
- O Mundo ou Tratado da Luz (1632-1633);
- Discurso sobre o Método (1637);
- Geometria (1637);
- Meditações Metafísicas (1641);
- Princípios de Filosofia (1644);
- As Paixões da Alma (1649).
Referências
Originalmente publicado em: Hatfield, Gary, “René Descartes”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2024 Edition), Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2024/entries/descartes/>. Todas as referências ao longo do texto estão neste link.