Da série “Modernidade Líquida“.
Ouça nosso episódio sobre o capítulo Individualidade, de Modernidade Líquida, no podcast do Colunas Tortas. Depois, leia o artigo abaixo, pois ambos não são excludentes!
Individualidade
A segunda metade do século XX viveu sob a sombra tenebrosa de duas grandes distopias, Huxley e seu Admirável Mundo Novo, e Orwell e 1984. Ambas apresentavam um futuro decadente, em que as liberdades individuais seriam eliminadas em favor da organização, da racionalidade e da produção, tornando o mundo um lugar totalmente controlado.

Neste mundo, projetistas manipulavam os indivíduos sem poder como marionetes, eram os detentores de todas as decisões e bastava aos homens e mulheres comuns ouvir e obedecer. Nesta distopia, inclusive, eles obedeciam de bom grado, eram treinados para isso, cumpriam suas tarefas com indiferença em relação aos objetivos dos projetistas, dos ditadores.
Huxley e Orwell imaginavam um futuro destruído em que as pessoas não conseguiriam ter controle sobre as próprias vidas (e nem mesmo reivindicariam isto), para ambos, não havia como conceber um mundo sem projetistas, supervisores, administradores, que teriam posição-chave na hora de decidir os passos dos indivíduos comuns, trabalhadores sem ligação direta com o poder de decisão público ou privado. Ambos os autores não podiam imaginar um mundo, seja ele triste ou feliz, sem a presença de todo o aparato de controle e administração da modernidade.
Zygmunt Bauman, citando o geógrafo Nigel Thrift, supõe que os livros de Huxley e Orwell seriam classificados como “discursos de Joshua”, que têm como regra a ordem, já o caos é somente exceção. Este discurso se localiza em oposição ao discurso do Gênesis, em que o caos é a regra e a ordem é a exceção.
Ordem, permitam-me explicar, significa monotonia, regularidade, repetição e previsibilidade; dizemos que uma situação está “em ordem” se e somente se alguns eventos têm maior probabilidade de acontecer do que suas alternativas, enquanto outros eventos são altamente improváveis ou estão inteiramente fora de questão. Isso significa que em alguma lugar alguém (um Ser Supremo pessoa ou impessoal) deve interferir nas probabilidades, manipulá-las e viciar os dados, garantindo que os eventos não ocorram aleatoriamente.[1]
O discurso de Joshua é, assim, o discurso da ordem pela ordem, o discurso ordeiro que não precisa da justificativa final da criação da ordem. Normalmente, nesses discursos a maior parte das pessoas nunca sabem e nunca saberão os reais intentos da ordem ou o porquê de suas existências, mas isso não importa, a única coisa importante o bastante é a ordem explícita e a reprodução do mundo a partir de sua execução.
Zygmunt Bauman faz do discurso de Joshua uma analogia para a modernidade sólida, que vem cada vez mais sendo substituído pelo discurso do Gênesis. O caos, é necessário dizer, é aqui representado pela falta da ordem, pela ausência da dura obediência a preceitos transcendentais, portanto, pela falta de referência. A modernidade sólida, que sustentava o discurso de Joshua, funcionava sob um modelo fordista de regulação, da separação do trabalho intelectual do físico, da dominação sobre os trabalhadores feita pelos administradores. Não havia nada muito diferente na modernidade, esta era a hegemonia, por isso Bauman afirma que os embates entre capitalismo e comunismo eram brigas em família.
A corrente invisível que prendia os trabalhadores a seus lugares e impedia sua mobilidade era, nas palavras de Cohen, “o coração do fordismo”. O rompimento dessa corrente foi também o divisor de águas decisivo na experiência de vida, e se associa à decadência e extinção acelerada do modelo fordista. “Quem começa uma carreira na Microsoft”, observa Cohen, “não sabe onde ela vai terminar. Começar na Ford ou na Renault implicava, ao contrário, a quase certeza de que a carreira seguiria seu curso no mesmo lugar”.[2]
Os indivíduos do capitalismo pesado, da modernidade sólida, confiavam na administração, na regulação e na equipe de controle. Poderiam, vez ou outra, se rebelar contra o administrador-chefe, mas não contra a própria necessidade de uma administração para levar adiante as decisões necessárias da sociedade, da fábrica, da associação de bairro ou da própria família. Já no capitalismo leve, ou na modernidade líquida, os indivíduos se veem como únicos responsáveis por diversas tarefas que antes eram decididas por equipes especializadas, eles nem mesmo sabem como decidir, o objetivo da decisão ou os fins de suas próprias vidas.
Isso gera um novo tipo de indivíduo: ao contrário do capitalismo pesado, o capitalismo leve carrega consigo a obsessão por valores. Os atos no capitalismo pesado eram medido a partir da eficiência em relação aos objetivos traçados, mas quando não há objetivos traçados, fins específicos, o meio passa a ser o foco da ação, e os fins se tornam objeto de agonia e ansiedade.
A perda das referências, da centralização da ordem e em um comando de controle, faz do mundo um grande balde cheio de possibilidades que não podem ser administradas somente pelo indivíduo jogado ao seu própria desespero. O resultado disso no direcionamento das práticas é que agora não se pretende melhorar a eficiência de uma ação que precisa ser feita e não pode ser esquecida, a única pergunta é “o que eu posso fazer?”.
Cabe ao indivíduo descobrir o que é capaz de fazer, esticar essa capacidade ao máximo e escolher os fins a que essa capacidade poderia melhor servir – isto é, com a máxima satisfação concebível. Compete ao indivíduo “amansar o inesperado para que se torne um entretenimento”.[3]
O indivíduo que é obcecado pelos valores das ações e não pelos fins que as ações ajudariam a manter, também é aquele que não tem definido quem será até o fim de sua vida. O indivíduo na modernidade líquida pode tornar-se qualquer um. Mas esta é uma tarefa nunca acabada, pois se tornar-se alguém é de fato estacionar sua identidade em algo fixo, isso já não é mais fácil, talvez nem mesmo possível: o indivíduo nunca é, sempre está em processo de se tornar alguém, até mesmo quando acha que está chegando na perfeição de um alguém específico que se tornou, já que o verbo tornar tem mais relevância sobre o adjetivo alguém (este último, em sua fixidez, acaba com a liberdade que precisa sempre estar viva no mundo fluido). A incompletude é, então, constitutiva da identidade líquida.
Por fim, este panorama é parecido com o da mesa de bufê esperando com que consumidores provem a todos. A angústia crucial deste consumidor é saber se utilizou os meios certos para conseguir consumir um pouco de tudo, para conseguir acumular o máximo de experiências. Sem ter como classificar suas ações e seu estágio na vida como certo ou errado, já que não há referências finais para se pautar, os consumidores só sabem que precisam consumir o máximo possível – e os vendedores (fabricantes de commodities, grandes agricultores, capitalistas do mundo digital, entre tantos outros capitalistas) entendem que podem permanecer no ramo por um tempo indefinido.
A identidade tratada como consumo leva à análise das referências que impõem as identidades a grupos específicos. A pergunta aqui é, num mundo sem referências, não há regras para se identificar com algo? A modernidade líquida não significa o fim das regras, o fim das leis. Ela significa o fim das autoridades que seriam absolutas na hora de apontar qual identidade cada indivíduo deveria corporificar. O que o capitalismo leve fez foi multiplicar o número dessas autoridades até um índice tão grande que cada uma delas não tem mais autoridade nenhuma: o único elemento com autoridade é aquele que escolhe, pois é somente através da escolha que a autoridade escolhida se torna de fato uma autoridade (e as outras perdem seu status). “As autoridades não mais ordenam; elas se tornam agradáveis a quem escolhe; tentam e seduzem”[4].
A crise da autoridade faz crescer o elemento líder, aquele que não é autoridade, mas detém algum carisma, aponta um fim e deve ser seguido pelos liderados; mas também, esta mesma crise fez aparecer a figura do conselheiro, que não precisa ser seguido, que não tem nenhuma autoridade científica ou erudita, que detém algum carisma e pode ser contratado e demitido para dar seus conselhos. O líder é alguém que ainda toma como objetivo construir algo melhor para o mundo como um todo, o conselheiro não sai da esfera da vida privada, não traduz nenhum sentimento privado em ação coletiva.
Os conselhos que os conselheiros oferecem se referem à política-vida, não à Política, com P maiúsculo; eles se referem ao que as pessoas aconselhadas podem fazer elas mesmas e para si próprias, cada uma para si – não ao que podem realizar em conjunto para cada uma delas, se unirem forças.[5]
O conselheiro diz aquilo que o indivíduo pode fazer em sua vida, ele é como um exemplo do resultado de seguir seu conselho, ao mesmo tempo, como é somente um conselho que já se assume sem nenhuma autoridade, o interlocutor não precisa se basear nele, caso não queira, pode somente jogá-lo fora. O papel do conselheiro é mostrar às pessoas que devem aceitar seu papel de serem responsáveis por suas vidas e, em caso de fracasso, devem aceitar toda a culpa para si.
Esse amor de si pós-moderno carrega consigo uma noção mercantil do próprio corpo, da vida e das ações (pois tudo que é feito, tudo que acontece e todas as consequências são responsabilidade do autor – consumidor proprietário de todo poder no mundo) e uma noção pré-moderna, artesanal, de que o produto do trabalho não tem valor de acordo com a utilidade, mas sim de acordo com o processo de trabalho utilizado. Ele é bom na medida em que tenho bons cuidados, boa atenção e aplico adequadamente minhas habilidades em sua feitura; ao mesmo tempo, caso ele seja ruim, deve-se procurar a causa dessa ruindade em suas própria habilidades, atenção e cuidados.
Bauman cita a fita cassete de Jane Fonda, em que ela ensina exercícios para manter o corpo em forma e, ao mesmo tempo, atua como conselheira pós-moderna ao definir que o corpo é sua propriedade e sua responsabilidade, portanto, somente ela própria pode encontrar um jeito de deixá-lo adequado e, caso não consiga, sempre será culpa dela própria. O corpo em seu vídeo, diz Bauman, é seu próprio trabalho, seu esforço, seu tempo gasto, e Jane Fonda se apresenta não como autoridade que conhece aquilo que deve ser feito, mas como exemplo do que ela própria sinaliza que é correto, como objeto daquilo que ela parece ser sujeito, ao mesmo tempo, traduz essa possibilidade de lidar com o corpo como algo que pode ser feito por qualquer pessoa e inscreve nas espectadoras a responsabilidade que elas próprias têm sobre seu sucesso ou fracasso nesta missão.
É claro que seríamos ingênuos em não assumir que a fama de Fonda lhe desse alguma autoridade, mas em tempos de falta de referências, não é a autoridade que lhe dá o enorme número de seguidores, mas sim o enorme número de seguidores que lhe dá autoridade, como qualquer best-seller, que se trata de um livro que vende bem porque está vendendo bem.
As questões de cunho privado tomam conta do discurso público e a Política perde espaço para a política-vida. Desta forma, até mesmo os programas de televisão têm papel de legitimar o discurso público de questões privadas. Eles fazem aquilo que só pode ficar em esfera privada ganhar seu lugar na esfera pública, fazem com que o vergonhoso se torne decente. Esses programas falam abertamente sobre segredos individuais, questões delicadas sobre sexualidade, os pecadores esperam a redenção de um público empático e suas opiniões, que antes seriam deixadas no anonimato, sem nenhuma relevância, agora podem ser ouvidas e discutidas, mesmo que somente por alguns minutos e com poucas pessoas. A grande jogada está no público espectador, que assiste tais revelações e conseguem se colocar no lugar dessas pessoas, conseguem fazer de seus problemas pessoais também algo a ser resolvido publicamente.
Não que se tornem questões públicas, entram na discussão precisamente em sua condição de questões privadas e, por mais que sejam discutidas, como os leopardos, também não mudam suas pintas. Afinal, todos os que falaram concordaram que, na medida em que foram experimentadas e vividas privadamente, é assim que essas coisas devem ser confrontadas e resolvidas.[6]
Os programas de televisão servem como exemplo de um movimento maior: o desaparecimento da Política com P maiúsculo, ou seja, o desaparecimento da esfera política de mediação entre problemas individuais e soluções coletivas, ou a esfera especializada em traduzir os problemas individuais em questões públicas. O indivíduo da modernidade líquida é visto até aqui, portanto, como alguém que compra sua identidade e é impulsionado a mostrá-la, não só porque ele é aquilo que ele parece ser, mas também porque aquilo que ele parece ser é a coisa mais importante que ele pode ser. A política-vida toma o lugar de importância que a Política ocupava, fazendo da vida privada o melhor objeto para a discussão pública e tornando o ato de se mostrar, de se exibir, de revelar segredos, em uma ação política relevante.
Do mesmo modo, a maneira de se ver a instituição política e seus participantes é modificada, já que cada vez menor interessa observar como as figuras públicas desempenham seus deveres públicos, “o que cada vez mais é percebido como ‘questões públicas’ são os problemas privados de figuras públicas“[7].
São essas condições de vida, de consumo irrefreável, de vida privada colocada sempre em público, que leva as pessoas a procurarem exemplo, não autoridade, não líderes. Ninguém quer ser guiado, as pessoas querem ver maneiras de fazer com elas mesmas aquilo que alguém já fez por si e conseguiu dar certo.
No entanto, a busca por conselhos é um vício difícil de tratar: quanto mais conselhos se pede, maior fica a necessidade de viver a partir do conselhos um terceiro (não um líder, nem uma autoridade, mas um frágil conselheiro). Os indivíduos não têm a opção de não serem aconselhados, assim com não têm a opção de não consumir: algum tipo de consumo é necessário, incentivado e incutido, isso porque – segundo as interpretações comuns sobre a dita pós-modernidade – o foco do consumo atual não é sobre a necessidade, que se refere à satisfação de uma ausência interna, mas delimitada externamente (como a fome, a sede, a moradia, a educação); o consumismo atual atua sobre o desejo, essa instância sem fim, sem delimitação, pura falta, nunca satisfeita, que aponta para diferentes objetos em pouco tempo.
Porém, o desejo não constitui naturalmente o consumidor, é necessário fabricar uma individualidade que tome o desejo como base para preparar o ato do consumo. Essa fabricação, por sua vez, não é fácil, ela exige que parte da produção seja destinada a esse tipo de trabalho. Bauman assume a perspectiva do sociólogo escocês Harvie Ferguson, que não identifica a sociedade atual com base no desejo, mas sim com base no querer, uma força motivadora que ultrapassa o jargão do desejo de que “eu sou aquilo que eu tenho”, pois o “ter” tem limite, já a produção no capitalismo avançado não pode parar – e o consumo não deve terminar.
O querer não é limitado pelo princípio do prazer, não tem relação com o princípio da realidade Ele é um impulso infantil e autocentrado, não precisa da comparação para existir: o consumidor movido pelo querer compra inclusive quando não precisa mostrar que é mais rico, antenado ou atualizado que qualquer outro consumidor, sua compra é espontânea, casual.
Este consumidor não é alguém que também é consumidor. Pelo contrário, a sociedade líquida faz dos indivíduos primariamente consumidores (não mais produtores), pois a vida passa a ser organizada em torno do papel de consumidor. O papel de produtor tem limites nas expectativas de cada indivíduo em relação a sua vida, aos seus anseios, e desejar algo para além do limite socialmente esperado é luxo, já o luxo, é pecado. É necessário estar sempre na conformidade. Pelo contrário, a vida organizada em torno do consumo se move em torno de seduções, desejos que sempre crescem e quereres voláteis, não há normas fixas. A comparação existente entre indivíduos na sociedade do consumo não é entre você e seu vizinho, mas é uma comparação universal, e já que não há normas para declarar um desejo como legítimo ou “falsa necessidade”, também não há como saber qual é a conformidade.
O indivíduo definido primariamente como consumidor precisa estar aberto às novidades que o mercado pode lhe fornecer, precisa estar preparado para se adequar ao mundo da incertezas, precisa ser flexível o bastante para poder querer de tudo. A norma desaparece.
O desaparecimento da norma tem consequências também no corpo dos indivíduos, já que a norma – propriamente em uma sociedade de produtores – se relaciona diretamente com a saúde, enquanto a doença é vista como anormalidade, afirma Bauman, A saúde é o estado desejável do corpo, é o estado em que o corpo é empregável, em que ele pode trabalhar.
Os indivíduos da modernidade líquida não precisam ser “normais”, ou saudáveis, mas precisam ser aptos. A aptidão é relacionada com a possibilidade prática de se fazer ou sentir algo diferente a cada instante, sem duração previsível.
“Estar apto” significa ter um corpo flexível, absorvente e ajustável, pronto para viver sensações ainda não testadas e impossíveis de descrever de antemão. Se a saúde é uma condição “nem mais nem menor”, a aptidão está sempre aberta do lado do “mais”: não se refere a qualquer padrão particular de capacidade corporal, mas a seu (preferivelmente ilimitado) potencial de expansão. “Aptidão” significa estar pronto a enfrentar o não-usual, o não-rotineiro, o extraordinário – e acima de tudo o novo e o surpreendente. Quase se poderia dizer que, se a saúde diz respeito a “seguir as normas”, a aptidão diz respeito a quebrar todas as normas e superar todos os padrões.[8]
A aptidão também não é comparável, pois se trata de uma experiência subjetiva, sentida, vivida, não de um estado passível de observação exterior. Por não ser comparável e não ter um fim referencial, a aptidão é um processo eterno e os indivíduos que a buscam sabem que nunca estarão suficientemente aptos, portanto, devem sempre trabalhar para aumentar sua aptidão, da mesma forma que o vídeo de Jane Fonda mostra que o cuidado eterno é o valor que o corpo tem (pois o cuidado é o meio de se conseguir o corpo), o trabalho eterno pela aptidão é o valor do indivíduo que a busca.
Os diagnósticos médicos, por sua vez, deixam de trabalhar o corpo como uma unidade em um estado determinado (de saúde ou doença) e passam a considerá-lo em sua potencialidade para a doença: Bauman explica que o objeto do diagnóstico é, cada vez mais, a distribuição de probabilidades das doenças que podem derivar da condição atual do paciente. A saúde, portanto, são os riscos corporais otimizados.
Por sua vez, a tendência pós-moderna em organizar a vida para o aumento da aptidão, ou seja, para manter o corpo saudável e preparado para todas as variações que a realidade pode trazer consigo, não transforma as pessoas em indivíduos ascetas, pelo contrário, os coloca em contato com produtos especializados para o corpo saudável, comprados no supermercado e fabricados pelas mesmas marcas que já monopolizam o mercado de comida “não-saudável”.
Estes produtos (e qualquer produto, alvo do consumista) causam uma leve sensação de conforto e segurança aos seus consumidores. Talvez a única que podem ter num turbilhão de incertezas da areia movediça que se tornou a vida. Um pequeno exorcismo, que não consegue afastar o mal da incerteza, mas é a prova de que ela não reina soberana.
A busca pela segurança faz parte da arte de viver, e a obra de arte que tentamos continuamente pintar a partir dos fragmentos da vida é aquilo que chamamos de identidade. A identidade representa uma certa harmonia lógica, uma consistência, e seu objetivo é fornecer ligadura ao fluxo incessante de fragmentos que podem ser tomados como símbolos de si. A luta do indivíduo que utiliza a arma da identidade é tornar o fluxo mais lento e menos disforme, apesar de ser uma luta em vão, já que nega-se o fluxo abaixo da superfície da identidade, mas ele não para por completo em nenhum instante. As identidades atuais não conseguem acalmar o fluido, pelo contrário, elas nem mesmo se dão o tempo para tal tarefa, logo que o indivíduo percebe não ser capaz de finalizar a missão, ela é trocada por outra que talvez tenha mais chances na empreitada (e assim por diversas vezes, sem um fim definido para este ciclo).
A identidade passa a ser um item nas prateleiras do supermercado e basta para os indivíduos pós-modernos poder comprar todas as características identitárias necessárias. É na seleção individual da própria identidade que o indivíduo pós-moderno pode realizar as fantasias que cria para a sua própria. Assim, é possível fazer e desfazer-se de uma identidade quando quiser, quantas vezes forem necessárias.
Esta forma específica de lidar com a identidade tem ligação com o mundo vivido, já que a produção de mercadorias duráveis vem deixando de ser a ordem e dando espaço para a obsolescência programada há décadas. A fabricação de mercadorias feitas para durar pouco e serem substituídas por outras é um princípio da identidade pós-moderna, que dura o tempo necessário para ser aproveitada e é substituída logo em seguida por outra que possa dar mais vantagem estratégia para o indivíduo – este, por sua vez, precisa estar sempre alerta para as novidades do mundo das identidades e ser flexível o bastante para jogar a sua atual identidade no lixo e comprar uma nova.
O poder, por sua vez, opera nessas identidades, já que sua estratégia envolve a descartabilidade do mundo como um todo. Em vez de individualizar e vigiar cada pessoa, a estratégia atual do poder é o que Thomas Mathiesen chama de sinóptica (em oposição à panóptica foucaultiana), a partir da sedução que o poder opera para conquistar cada informação que precisa dos indivíduo (e se exercer através deles). O poder se revela como livre-arbítrio, não como coerção externa. A possibilidade de escolher entre diversas identidades é parte da estratégia do poder, como dito, para tornar o mundo essencialmente descartável, operando através da liberdade do consumidor (de identidades, no caso) pós-moderno.
O mundo sinóptico, da sedução, por sua vez precisa do elemento do querer como dominante em relação ao desejo, pois somente assim as trocas de produtos descartáveis podem ser feitas indefinidamente. Se a identidade entra nesta dinâmica, então é somente a partir do querer que o indivíduo pode ser o que quiser a hora que quiser, não somente em relação àquilo que pode de fato ser (um judeu pode ser nazista?), mas somente em relação àquilo que quer ser. Este ser, por sua vez, é só um artifício linguístico, pois não há um ser, mas somente um estado de coisas prestes a se modificar.
Novamente, temos as consequências: o mundo de consumidores é um mundo abarrotado de mercadorias e é um lugar cheio de culpa e responsabilidade. Se a identidade pode ser consumida, então os fracassos identitários são de responsabilidade individual, cabe ao indivíduo se modificar novamente e novamente para conseguir se adequar (ser apto) ao mundo que lhe cerca.
O mundo de mercadorias envolve a maneira de se coordenar os relacionamentos amorosos, pois a liberdade em se relacionar com quem quiser e quantas vezes desejar é a profunda negação do outro enquanto detentor das mesmas possibilidades. Se mudar de relacionamentos (e de identidade) não é só uma questão privada, mas envolve romper relações e formas novas, então aqueles que não têm as ferramentas necessárias para lidar com estas mudanças não conseguem exercer sua liberdade de escolha. São excluídos da sociedade de consumo.
Em suma, a mobilidade e a flexibilidade da identificação que caracterizam a vida do “ir às compras” não são tantos veículos de emancipação quanto instrumentos de redistribuição das liberdades.[9]
As vantagens da fluidez são mistas, revelam a ambivalência desses valores, já que a liberdade pode tanto uma possibilidade de máximo consumo, como a impossibilidade de participar ativamente da vida de consumo e desenvolver traumas, síndromes e doenças psicológicas em geral. A solidariedade também é minada já que a tarefa compartilhada entre os indivíduos precisa ser feita individualmente, assim como o sentimento de dor e cura de seus sofrimentos.
Referências
[1] BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 66.
[2] BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida… p.70.
[3] BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida… p.74.
[4] BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida… p.76.
[5] BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida… p.77.
[6] BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida… p.82.
[7] BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida… p.83.
[8] BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida… p.92.
Instagram: @poressechaopradormir
Pós-graduado em sociopsicologia pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo e editor do Colunas Tortas.
Atualmente, com interesse em estudo do biopoder nos textos foucaultianos.
Autor dos e-books:
Fascismo: uma introdução ao que queremos evitar;
Análise do Discurso: Conceitos Fundamentais de Michel Pêcheux;
Foucault e a Arqueologia;
Modernidade Líquida e Zygmunt Bauman.

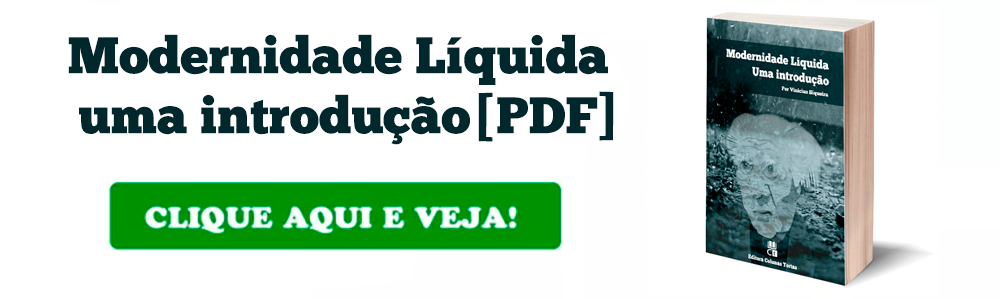
Muito bom! obrigada pela contribuição.
Obrigado por nos ler, Maria!
Gostei muito do teu texto, parabéns.
Obrigado! Grande abraço!
Uma síntese simples e coerente, de fácil entendimento e assimilação. Muito bom texto.
Muito obrigado, Gustavo!!!
Excelente abordagem do texto de Batman. De fácil digestão.
Muito bom!
Obrigado!
Muito bom. Está me ajudando a estudar para uma prova.
Muito obrigado, Felipe!
bem simplificado! me ajudou bastante entender Bauman
Obrigado pelo comentário, Denise!
Excelente, ajudou muito minha compreensão do texto.Obrigada
Bom demais, adorando estudar sobre isso, ajudou um montão
Obrigado, Flávia!
Ler Bauman é indispensável!