 Diante da situação da Cátedra Michel Foucault e a Filosofia do Presente, o Colunas Tortas presenciou o primeiro debate da “Cátedra Maurice Florence e a Filosofia da Resistência” na PUC/SP, organizada pelo Grupo de Pesquisa Michel Foucault da PUCSP com a Prof. Salma Tommus Muchail (PUCSP) como mediadora, e os Professores Pedro Paulo Gomes Pereira (UNIFESP) e Paulo Eduardo Arantes (USP) como convidados.
Diante da situação da Cátedra Michel Foucault e a Filosofia do Presente, o Colunas Tortas presenciou o primeiro debate da “Cátedra Maurice Florence e a Filosofia da Resistência” na PUC/SP, organizada pelo Grupo de Pesquisa Michel Foucault da PUCSP com a Prof. Salma Tommus Muchail (PUCSP) como mediadora, e os Professores Pedro Paulo Gomes Pereira (UNIFESP) e Paulo Eduardo Arantes (USP) como convidados.
O Professor Pedro Paulo Gomes Pereira questionou inicialmente “Quem tem medo de Foucault?” e procurou responder ao decorrer do discurso a partir de suas experiências profissionais e conhecimentos sobre Foucault. Adentrando o âmbito da saúde, Pedro Paulo observou os grandes benefícios do protagonismo de Foucault na moderna teoria do gênero, sendo ele “…incontornável para enfrentar os dilemas da epidemia da aids, as relações com o sexo e a sexualidade, as possibilidades e potências das sexualidades dissidentes“. A seguir, o Colunas Tortas disponibiliza exclusivamente o discurso feito pelo Professor Pedro Paulo Gomes Pereira no debate ocorrido nesta quinta (18 de junho).
A censura e a crítica – Quem tem medo de Foucault?
“Desde que me deparei com notícias na mídia sobre os fatos, fiquei me perguntando sobre os motivos de uma negação de uma Cátedra Michel Foucault, sobre as razões dessa censura de um pensamento tão fecundo e instigante. O que haveria de tão nocivo na proposta de uma cátedra Foucault? O que carregaria esse pensamento que justificasse ser objeto de veto da igreja (Representada pela Fundação São Paulo e pela Reitora da PUC/SP)? Para replicar aqui o que Tânia Navarro vem insistindo há muito, caberia perguntar: quem teria medo de Foucault?
Pensei que talvez a melhor forma de refletir sobre essa questão fosse narrando algo de minhas experiências. Sou antropólogo de formação. E quando fazia pesquisa para o doutorado, na década de 90, Foucault surgiu como necessidade. Eu havia me aproximado da obra de Foucault e me apaixonado por seus movimentos teórico-conceituais desde a graduação, mas foi na pesquisa de doutorado que Foucault surgiu não como uma teoria ou como conceitos (externos) para analisar uma realidade, mas como necessidade, pois o contexto que eu buscava compreender me colocava questões que não conseguiria responder sem o pensamento de Foucault.
Nos anos de 1998 e 1999 realizei uma etnografia num refúgio para portadores de AIDS onde conviviam, em situação de confinamento, ex-presidiários, ex-prostitutas, moradores de rua, travestis, pessoas abandonadas ou expulsas de casa, usuários de drogas injetáveis e alcoolistas. Ao longo do trabalho de campo, escutei repetidamente o termo “terror”: os internos se referiam à vida que levavam entre o abrigo que os acolhera e os hospitais utilizando repetida e insistentemente o termo terror. As narrativas dos internos compunham falas que desenhavam o quadro de isolamento, solidão e incomunicabilidade.
Examinei os processos pelos quais o terror se inscrevia nos corpos e tomava conta da consciência desses internos, fechando o horizonte de sentido em torno deles. Busquei apresentar as estratégias e os métodos de disciplinamento utilizados pelas autoridades da instituição, colocando o foco da exposição na descrição e análise da manipulação corporal dos internos, e no exame dos discursos cujo tema constante é a iminência da morte.Acompanhei esses internos também em seus itinerários por hospitais e serviços de saúde. No universo hospitalar, deparei-me com as políticas públicas direcionadas à epidemia, que compunham saberes que iam das práticas de prevenção, passavam pela etiologia da doença e pelas terapias medicamentosas até a dinâmica geral de epidemia.
Se na Esplanada dos Ministérios planejavam-se as políticas públicas contra a aids no Brasil, e se ali os profissionais de saúde manejavam sofisticadas formas de gestão e distribuição de medicamentos, na periferia encontravam-se pessoas para as quais as políticas não faziam efeito. Eram portadores de HIV cujas doenças não recebiam acompanhamento e que sobreviviam sem auxílio ou intervenção direta do Estado. A luta por formas de proteção contra a epidemia, as políticas para evitar a contaminação, as ações pela vida, tais como declaradas nos hospitais e propaladas pelas políticas públicas, deparavam-se com pessoas excluídas e relegadas à morte.
Esse abandono e o processo de exclusão eram perpetrados concomitantemente às ações de Estado, que formulava e operava práticas preventivas e de adesão às terapêuticas antirretrovirais e distribuição gratuita de medicamentos.
A existência de um refúgio como este demonstra que há uma zona onde as políticas públicas não conseguem entrar ou simplesmente não fazem efeito. Certa vez um médico, diante da constatação da incapacidade de práticas terapêuticas razoáveis para aquelas pessoas, me falou: “Como a realidade não podia ser mudada, tratava-se de salvar os que podiam ser salvos, ou cuidar dos que podiam ser cuidados”. Os esforços direcionados àquelas pessoas eram inúteis. Não que se recusasse tratamento para os internos daquele abrigo, até porque eles vagueavam pelos serviços de saúde, mas que, como se sabia então, “eles não iriam adotar práticas de cuidados ou aderir aos tratamentos”. Portanto, “não havia nada que pudesse ser feito”. “Estão ali para morrer”, sentenciavam por fim diversos profissionais de saúde, numa frase que escutei incansavelmente por mais de dois anos.
Performatizando uma tensão entre o fazer viver e o deixar morrer, lado a lado estavam políticas de prevenção, medicamentos, formas de gestão, e pessoas para as quais essas medidas e ações não chegavam, deixadas à própria sorte num refúgio para portadores de aids.
Explorei essa tensão entre o fazer viver e o deixar morrer. Não havia como olvidar Foucault por ser ele quem estabeleceu uma nova forma de explorar a questão. Narrando o inusitado aparecimento do sexo como fundador da identidade e, portanto, da inteligibilidade do indivíduo moderno, Foucault sustentou que o poder, que outrora se esforçava em evitar a morte, começa a se centrar na produção, regulação e manutenção da vida. Surgia um poder produtivo que simultaneamente controlava e gerava aquilo que disciplinava. Assim, a potência da morte relacionada ao poder soberano foi recoberta pela administração dos corpos e pela gestão calculista da vida. Os mecanismos de poder acabam por dirigir-se ao corpo e à vida, em tudo que faz proliferar e reforçar a espécie. O conceito de biopoder assinala o momento no qual o poder passa a investir na vida.
Não obstante essa história de uma modernidade que se afasta da morte e que rompe a era das epidemias, se acompanharmos a trajetória de pensamento de Foucault, há também práticas de morte que rondam essa mesma modernidade. Tudo acontece como se a proliferação de formas de controle e de manutenção da vida seja simultânea a processos de exclusão, de criação de outros abjetos, e mesmo da tentativa da extirpação de partes consideradas indesejáveis. Trata-se, então, de um movimento ambíguo: junção de uma vida que se deve proteger a todo custo, a invenção de outros que ameaçam a vida, e o surgimento de vidas que não merecem ser vividas. Assim, se estamos numa época em que há uma supervalorização e proteção à vida, ao mesmo tempo existem zonas nas quais pessoas são deixadas para morrer – como as que acompanhei durante meu trabalho de campo.
Pensando numa escala global, é interessante recordar que, ao lado do incremento de políticas sanitárias, da vacinação em massa, das inovações na ciência que possibilitam qualidade de vida e saúde para as populações, tivemos nas últimas décadas conflitos como os de Ruanda, Iugoslávia, Libéria e Sudão. Chegou-se a falar da década de 1990 como a da violência em larga escala, caracterizada pelo excesso de raiva que produziu uma criatividade na degradação e violação: corpos aleijados e torturados, pessoas queimadas e estupradas, mulheres estripadas, crianças mutiladas, humilhações sexuais de todos os tipos.
A biopolítica apresenta, portanto, aspectos inconciliáveis: ou produz subjetividades ou morte; ou é política da vida ou sobre a vida. Essa “indecibilidade” levou os teóricos a caminhos diversos, ora assinalando que o conceito de biopoder hoje sinaliza para seu caráter produtivo, ora ressaltando que uma das características principais da biopolítica na contemporaneidade é a produção do homo sacer.
Giorgio Agamben, por exemplo, defende que a característica mais marcante da vida moderna é que cada vez mais o estado de exceção vem se transformando em regra, tornando-se tênue e instável a linha divisória que demarca a fronteira entre a vida que merece ser vivida – e, portanto, deve ser protegida e incentivada – e a vida nua, desprovida de garantias e exposta à morte.
Além disso, são muitos os momentos nos quais a ciência é chamada para sustentar qual é a vida biologicamente melhor e como torná-la mais potente – processo que torna uma vida mais potente, mas pode ser consubstancial a morte das vidas consideradas biologicamente piores. E tudo isso no contexto da aids.
A epidemia de aids trouxe mudanças significativas nas relações sociais, nas formas de perceber as diferenças sociais, nas concepções de saúde e de doença, fazendo-nos compreender como um vírus pode transformar a sociedade. O medo do contágio e o terror milenar das epidemias intensificaram-se. A concepção miasmática proporcionou condições para a interrupção das trocas, porque a metáfora do contágio – que é um tropo da circulação – refloresce ideais assépticos que buscam o corte simbólico de um indivíduo a outro, na tentativa de evitar uma possível contaminação. O trauma psíquico oriundo das pestes e das epidemias, reativado pela aids, encontrou seus culpados potenciais e acirrou a necessidade de evitar a proximidade com as prováveis fontes de contágio. A operação de localizar no “outro” a contaminação, advém, principalmente, da busca de compreender a epidemia e de identificar os contaminadores. O comportamento desviante do “outro” torna inteligível o próprio contágio, conferindo segurança e distância para enfrentar o trauma da pandemia aids.
A aids tem vitimado principalmente os setores menos favorecidos da sociedade no Brasil. Existe um aproveitamento das estruturas da desigualdade e de opressão social que coloca milhões de pessoas em situação de acentuada vulnerabilidade. Uma pessoa nessas condições pode potencialmente ser conduzida ao refúgio onde desenvolvi minha pesquisa, onde o corte simbólico ensejado pelo advento da aids e a extrema pobreza conduziram quase duas centenas de pessoas a um processo de assepsia social que retira de si as partes impuras e indesejáveis, tornando possível agrupar em uma instituição pessoas sem moradia, seres que vagueavam pelos hospitais, pelos serviços de saúde, pelas prisões e demais estabelecimentos carcerários. E o cenário proporcionado pela epidemia da aids nos lembra que certa vez Foucault falou de uma era do fim das epidemias….
Quando Foucault publicou o primeiro volume da história da sexualidade, em 1976, desconhecia a posterior emergência da epidemia da aids no seio do próprio âmbito da atuação do poder moderno. A história de epidemia vai evidenciar como os discursos que surgiram para gerir e reproduzir a epidemia de aids, como salientou Judith Butler (desenvolvendo argumento que acompanho de perto aqui), o poder jurídico e o poder produtivo convergem num estabelecimento do sujeito homossexual como portador de morte. Trata-se de uma matriz de poder discursivo institucional que junta questões de vida e morte mediante uma construção da homossexualidade como categoria do sexo nos termos dessa matriz. O sexo homossexual é vinculado à morte. Portanto, a ideia que o sexo surge no contexto de um poder produtivo tem que ser acrescentada à história na qual o sexo parece mobilizar a morte. A categoria sexo não somente se constrói a serviço da vida ou da reprodução, mas também se constrói a serviço da regulação e dosificação da morte.
Na história da aids, essa epidemia de significados, homossexual masculino o estigma e o preconceito se espalharam, abarcando outras diferenças, mobilizando a indústria discursiva da morte para outros campos. Tudo se passa como se a epidemia vasculhasse as diferenças no sentido de aplainá-las, demarcá-las para atuar sobre elas – seja eliminando-as, apartando-as, normatizando-as.
Essa história nos conta também que a morte não é o limite do poder. O poder segue atuando por meio da perpetuação da morte e das pessoas moribundas. Como salientou Judith Butler, a morte tem sua própria indústria discursiva.
Se a tecnologia é capaz de prevenir a morte e se pode mesmo conservar a vida, não elimina a possibilidade de que o discurso regulador do sexo possa por si ser gerador da morte. A minha experiência mostrava mesmo que as decisões políticas que ministram os recursos científicos, tecnológicos e sociais para responder à epidemia da aids sinalizam que há vidas a salvar que estão demarcadas daquelas que se abandonaram à morte.
Foucault é, portanto, incontornável para enfrentar os dilemas da epidemia da aids, as relações com o sexo e sexualidade, as possibilidades e potências das sexualidades dissidentes. Haveria só neste aspecto maior justificativa para uma Cátedra Foucault?
Todavia, a situação neste momento é outra, pois estamos nos indagando sobre as razões de um pensamento tão poderoso ser censurado. Penso que a resposta pode ser dada se lembrarmos a postura de certa parcela hegemônica da Igreja Católica sobre a aids: mais um dos discursos normalizadores a construir e vincular a morte ao desejo homossexual e a construir “vítimas culpadas”, a negar formas de prevenção. Não há, assim, como esquecer o papel da Igreja na história da Aids. E é bom lembrar que Foucault era gay e morreu com aids e que a censura à Cátedra de Foucault é simultânea às declarações de setores da Igreja católica contra “ a teoria de Gênero” e mesmo de votações nas Câmaras Municipais que estão simplesmente retirando qualquer referência do termo “Gênero” dos Planos de Educação. Ambos os casos sinalizam retrocessos na educação e caminham na mesma direção. E tudo isso num momento em que precisamos de ferramentas contra a homofobia, necessitamos de profissionais que saibam lidar com as diferenças…
Entretanto, apesar da possibilidade de que a decisão da Fundação São Paulo e da Reitora da PUC/SP ocorra em larga medida pelo protagonismo de Foucault na moderna teoria de gênero (agora, diabolizada), acredito que motivo da censura é largamente ancorado no próprio movimento do pensamento de Foucault. Num texto sobre o que é a crítica, Foucault nos fala algo sobre isso. Segundo ele, a tarefa primordial da crítica não é avaliar se seus objetos, condições sociais, formas de saber são bons ou maus, mas sim colocar em relevo o próprio marco da avaliação, indagando sobre qual a relação de saber-poder faz com que nossas epistemologias sustentem um modo de estruturar o mundo que exclui outras possibilidades. E, comenta Butler sobre esse texto de Foucault, quando alguém se interroga sobre os limites dos modos de saber, é porque já tropeçou numa crise no interior do campo epistemológico que habita as categorias mediante as quais se ordena vida social e que produzem certa coerência a âmbitos inteiros nos quais se pode falar. A crítica então indaga as relações de poder–saber e enseja outras possibilidades.
Todavia, Foucault fala mais: ser crítico com uma autoridade que se faz passar por absoluta requer uma prática crítica que tem seu centro a transformação de si. Ele então se coloca a indagação: como não ser governado desta forma e por nome desses princípios, em vista de tais objetivos e por meio de tais procedimentos, não desta forma, não por isso, não por eles?
Interessante que Foucault encontra as origens da crítica na relação de resistência à autoridade Eclesiástica – uma certa maneira de rechaçar, recusar, limitar o magistério eclesiástico era o retorno à Escritura. Foucault fala também em não querer ser governado, tampouco aceitar essas leis porque são injustas, porque escondem uma ilegitimidade essencial.
Talvez a questão mais importante em Foucault, que tanto receio provoca, que enseja censuras como a negação da Cátedra Foucault (contra a qual estamos nos rebelando) seja possibilitar perguntas sobre a possibilidade de pensarmos diferente e de outro modo. Perguntas que podemos acompanhar, por exemplo, na narrativa da poetisa e pesquisadora Daniela Gontijo, que se questiona sobre “o que fizeram de nós”: os gêneros que aprendemos a performar e que introjetamos como categorias ontológicas, as categorias em que fomos construídos. Daniela continua mais ou menos assim: “E como separar o que somos do que fomos feitxs ser? É possível que sejamos diferentes? É possível inventar novos prazeres, reinventar nossos corpos expropriados de nós, ocupar novas searas semânticas para recolonizar nossos corpos e mentes? É possível que invistamos em atos que podem nos devolver um novo existir?”
Certamente há algo de Foucault nessas indagações, na busca de pensar além do estabelecido, de percorrer as relações de poder-saber que nos constituem, que nos perpassam, na procura das brechas de insurgências e na transformação de si no próprio processo de crítica. Perguntas como essas incitam ao desapego ao poder, e indicam caminhos para uma vida não fascista. Mas, causam medo, pavor, pânico em alguns, principalmente nos pequenos déspotas que por aí perambulam.”

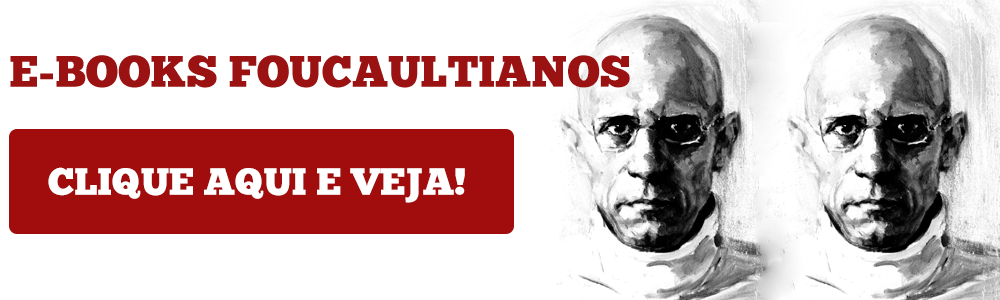
Muito obrigado por se proporem à expor um texto tão importante neste momento de reflexão sobre os saberes que censuram, quase que taciturnamente, as possibilidades do pensar.
Parabéns pelo blog.