“Heterotopias” e “Utopia do corpo” foram duas conferências transmitidas pela estação de rádio France Culture nos dias 7 e 11 de dezembro de 1966, como parte do programa de rádio Cultura Francesa produzido por Robert Valette. Abaixo, texto traduzido direto dos áudios originais e no fim do artigo, o material está disponível para download em PDF, EPUB e MOBI.
 Este lugar que Proust, lenta e ansiosamente, ocupa a cada um de seus despertares; deste lugar, assim que tenho meus olhos abertos, não posso mais escapar. Não que eu seja preso por ele – já que, afinal, posso não apenas mover-me e agitar-me, mas posso movê-lo, agitá-lo, mudá-lo de lugar -, no entanto, não posso me mover sem ele; eu não posso deixá-lo onde ele está e ir sozinho a outro lugar. Posso ir ao fim do mundo, posso me encolher, de manhã, sob minhas cobertas, fazer-me tão pequeno quanto possível, posso me deixar derreter sob o sol na praia, e ele haverá sempre de estar onde estou. Ele está irremediavelmente aqui, nunca em outro lugar. Meu corpo é o oposto de uma utopia, nunca está sob outro céu, é o lugar absoluto, o pequeno fragmento de espaço no qual eu, literalmente falando, me apoio.
Este lugar que Proust, lenta e ansiosamente, ocupa a cada um de seus despertares; deste lugar, assim que tenho meus olhos abertos, não posso mais escapar. Não que eu seja preso por ele – já que, afinal, posso não apenas mover-me e agitar-me, mas posso movê-lo, agitá-lo, mudá-lo de lugar -, no entanto, não posso me mover sem ele; eu não posso deixá-lo onde ele está e ir sozinho a outro lugar. Posso ir ao fim do mundo, posso me encolher, de manhã, sob minhas cobertas, fazer-me tão pequeno quanto possível, posso me deixar derreter sob o sol na praia, e ele haverá sempre de estar onde estou. Ele está irremediavelmente aqui, nunca em outro lugar. Meu corpo é o oposto de uma utopia, nunca está sob outro céu, é o lugar absoluto, o pequeno fragmento de espaço no qual eu, literalmente falando, me apoio.
Meu corpo, “topia” implacável. E se, felizmente, eu vivesse com ele numa espécie de familiaridade ordinária, como com uma sombra, como com essas coisas de todos os dias, que eu já não vejo e que a vida já tornou monótonas; como com essas chaminés, esses telhados que aparecem a cada dia à minha janela? Mas todas as manhãs, a mesma presença, a mesma lesão; sob os meus olhos se desenha a imagem inevitável imposta pelo espelho: o rosto magro, os ombros curvados, os olhos míopes, nenhum cabelo, definitivamente nada bela. E é com a feia carapaça de minha cabeça, esta gaiola da qual eu não gosto, que terei de me apresentar e me deslocar; é através destas grades que devo falar, assistir, ser assistido; sob esta pele, apodrecer.

Meu corpo é o lugar ao qual estou condenado. Penso, afinal de contas, que é contra ele e como que para eclipsá-lo que criamos todas essas utopias. O prestígio da utopia, a beleza, o encanto da utopia, a que eles se devem? A utopia é um lugar fora de todos os lugares, mas é um lugar onde eu terei um corpo desencarnado, um corpo que será belo, puro, transparente, luminoso, célere, colossal em seu poder, infinito em sua duração, ágil, invisível, protegido, transfigurado; e pode muito bem ser que a utopia primeira, aquela mais inextirpável no coração dos homens, é precisamente a utopia de um corpo incorpóreo.
A terra de fadas, duendes, gênios, mágicos… essa é a terra onde os corpos se movem tão rapidamente quanto a luz, onde as feridas se curam no maravilhoso tempo de um lampejo, essa é a terra onde se pode cair de uma montanha e continuar vivo, onde ficamos visíveis ou invisíveis quando queremos. Se há uma terra mágica, é possível que eu seja o príncipe encantado e que todos os caras bonitos se tornem feios.
Mas há também uma utopia que é feita para apagar o corpo. Esta utopia é a terra dos mortos, são as grandes cidades utópicas que a civilização egípcia nos deixou. O que são as múmias, afinal? São a utopia do corpo negado e transfigurado. Houve também as máscaras de ouro que a civilização micênica colocava nos rostos de reis falecidos: utopia de seus corpos gloriosos, poderosos, solares, terror dos exércitos. Houve as pinturas e esculturas dos túmulos; as efígies, que desde a Idade Média prolongam, em sua imobilidade, uma juventude que já não passará. Hoje, em nossos dias, há estes simples cubos de mármore, corpos geometrizados pela pedra, figuras regulares e brancas no quadro negro dos cemitérios. E nesta cidade utópica dos mortos, eis que o meu corpo se torna sólido como uma coisa, eterno como um deus.
Mas talvez a mais obstinada, a mais poderosa dessas utopias através da qual nós apagamos a triste topologia do corpo, seja o grande mito da alma que nos é dado desde a base da história ocidental. A alma trabalha em meu corpo de forma excepcional. Ela o habita, é claro, mas ela sabe escapar dele: escapa para ver as coisas através das janelas dos meus olhos, escapa para sonhar, quando durmo, para sobreviver, quando morro. Ela é linda, minha alma, é pura, é branca; e se meu corpo lamacento – ou pelo menos não muito limpo – vier a sujá-la, haverá uma virtude, haverá um poder, haverá milhares de gestos sagrados que irão restaurar a sua pureza original. Ela vai durar por um longo tempo, e mais que por um longo tempo, até quando meu velho corpo apodrecer. Viva a minha alma! Ela é meu corpo luminoso, purificado, virtuoso, ágil, móvel, morno, fresco; é meu corpo liso, castrado, arredondado como uma bolha de sabão.
É isso aí! Meu corpo, em virtude de todas essas utopias, desapareceu. Desapareceu como a chama de uma vela que assopramos. A alma, os túmulos, os gênios e as fadas se abateram sobre ele, fizeram-no desaparecer em um instante, assopraram sobre seu peso, sobre sua feiura, e me restituíram um corpo deslumbrante e perpétuo.
Mas meu corpo, na verdade, não se deixa reduzir tão facilmente. Ele tem, afinal, seus próprios recursos fantásticos; ele tem, também, lugares sem lugar e lugares mais profundos, ainda mais resistentes do que a alma, que o túmulo, que o encanto dos mágicos. Ele tem seus porões e sótãos, tem suas estadias obscuras, tem seus períodos luminosos. Minha cabeça, por exemplo: que estranha caverna aberta para o mundo exterior através de duas janelas, duas aberturas, estou certo, porque eu vejo no espelho; além disso, posso fechar uma ou outra separadamente. No entanto, não há mais que uma destas aberturas, porque eu vejo diante de mim uma única paisagem, de forma contínua, sem pausa ou partição. E nesta cabeça, como é que as coisas se dão? Bem, as coisas são acomodadas nela. Elas entram – e estou certo de que as coisas entram em minha cabeça quando eu as olho, porque o sol, quando está muito forte e me entontece, segue rasgando até o fundo de meu cérebro – e, no entanto, estas coisas que passam pela minha cabeça existem do lado de fora, uma vez que eu as vejo diante de mim e que, para me juntar a elas, devo, por minha vez, avançar.
Corpo incompreensível, corpo penetrável e opaco, corpo aberto e fechado: corpo utópico. Corpo absolutamente visível, de certo modo: eu sei muito bem o que é ser observado por outra pessoa da cabeça aos pés, eu sei o que é ser espiado por trás, observado sobre o ombro, ser surpreendido, eu sei o que é estar nu; No entanto, este mesmo corpo que é tão visível, é isolado, interdito por uma espécie de invisibilidade da qual não posso separá-lo.
Este crânio, esta parte traseira de minha cabeça que posso sentir com meus dedos, mas nunca ver; esta parte que sinto pressionada contra o colchão no divã quando estou deitado, mas a qual eu não descubro senão pela astúcia de um espelho; e o que são estes ombros, dos quais eu conheço com precisão os movimentos e posições, mas que eu nunca saberei ver sem que me tenha que contorcer horrivelmente? O corpo, fantasma que apenas aparece na miragem do espelho, e ainda assim, de uma forma fragmentada.

Será que eu preciso realmente de gênios e fadas, da morte e da alma, para ser indissociavelmente visível e invisível? E, além disso, esse corpo é leve, transparente, imponderável; nada é menos “coisa” que ele: ele corre, age, vive, deseja, se deixa atravessar, sem resistência, por todas as minhas intenções. Sim! Mas até o dia em que estou doente, quando a caverna de meu ventre se alarga, em que são bloqueados, congestionados, quando se enchem de concreto meu peito e minha garganta. Até o dia em que tem início, na parte posterior de minha boca, uma dor de dentes. E então, nesse momento, deixo de ser leve, imponderável, etc.; eu me torno coisa, arquitetura fantástica e arruinada.
Não, realmente, não há necessidade de magia ou de fadas, não há necessidade de uma alma ou de uma morte para que eu seja simultaneamente opaco e transparente, visível e invisível, vida e coisa: para que eu seja utopia, basta que eu seja um corpo. Todas estas utopias por meio das quais eu escapava de meu corpo tinham seu modelo e primeiro ponto de aplicação, seu lugar de origem em meu próprio corpo. Errei, há pouco, ao dizer que as utopias estavam voltadas contra o corpo e destinadas a apagá-lo: elas nasceram do próprio corpo e talvez, em seguida, se viraram contra ele.
De qualquer forma, uma coisa é certa: que o corpo humano é o ator principal de todas as utopias. Afinal, uma das utopias mais antigas que os homens contam para si mesmos não é o sonho de corpos enormes, desmesurados, que devorariam o espaço e dominaram o mundo? É a utopia dos gigantes, que encontramos no seio de tantas lendas na Europa, África, Oceania, Ásia; esta velha lenda que por tanto tempo alimentou a imaginação ocidental, de Prometeu a Gulliver.

O corpo também é um grande ator utópico, quando se trata de máscaras, maquiagem e tatuagens. Mascarar-se, maquiar-se, tatuar-se, não é exatamente, como se poderia imaginar, a aquisição de um outro corpo, simplesmente um pouco mais bonito, melhor decorado, mais facilmente reconhecível; tatuar-se, maquiar-se, mascarar-se, trata-se certamente de outra coisa, de fazer com que o corpo entre em comunicação com poderes secretos e forças invisíveis.
A máscara, a tatuagem, a maquiagem depositam sobre o corpo toda uma linguagem: toda uma linguagem enigmática, toda uma linguagem criptografada, secreta, sagrada, invocando sobre este mesmo corpo a violência de deus, o poder surdo do sagrado ou a vivacidade do desejo. A máscara, a tatuagem, a maquiagem colocam o corpo em outro espaço, fazem-no entrar em um lugar que não tem lugar diretamente no mundo, fazem deste corpo um fragmento de espaço imaginário que entrará em contato com o universo dos os deuses ou com o universo dos outros. Seremos percebidos pelos deuses ou pela pessoa que acabamos de seduzir. De qualquer forma, a máscara, a tatuagem, a maquiagem são operações pelas quais o corpo é afastado de seu espaço próprio e projetado em outro espaço.
Escutem, por exemplo, este conto japonês e como um tatuador coloca em um mundo que não é o nosso o corpo da garota que ele deseja: “O sol lançava seus raios sobre o rio e incendiava o quarto das sete esteiras. Seus raios refletidos na superfície da água formavam um desenho de ondas douradas sobre o papel das telas e sobre o rosto da jovem que dormia profundamente. Seikichi, depois de ter puxado a divisória, tomou suas ferramentas de tatuagem. Por alguns momentos, ele permaneceu imerso numa espécie de êxtase. Agora ele apreciava totalmente a estranha beleza da menina. Ele sentiu que poderia se manter sentado em frente ao rosto imóvel por dezenas e centenas de anos sem nunca sentir nem cansaço, nem tédio. Como o povo de Memphis enfeitava antigamente a magnífica terra do Egito das pirâmides e da esfinge, assim Seikichi com todo seu amor desejava embelezar com seu desenho a pele fresca da jovem. Ele imediatamente aplica nela as pontas de seus pincéis de cor posicionados entre o polegar, o anelar e o dedo mínimo da mão esquerda e, à medida em que as linhas eram desenhadas, ele as tatuava a partir de sua agulha mantida na mão direita.”

E se pensarmos que a vestimenta sacra ou secular, religiosa ou civil, leva o indivíduo ao espaço confinado da religião ou à rede invisível da sociedade, então vemos que tudo relacionado ao corpo – desenho, cor, coroa, tiara, roupas, uniforme – tudo isso faz florescer, de uma forma sensível e variada, as utopias contidas no corpo.
Mas talvez seja necessário descer ainda mais abaixo do vestuário, talvez seja necessário alcançar a própria carne, e então veremos que, em alguns casos, em última análise, é o próprio corpo que volta contra si mesmo seu poder utópico e introduz todo o espaço do religioso e do sagrado, todo o espaço do outro mundo, todo o espaço do contra-mundo dentro daquele que lhe é reservado. Assim, o corpo, em sua materialidade, em sua carne, seria como o produto de suas próprias fantasias. Afinal, o corpo do bailarino não é justamente um corpo dilatado de acordo com todo um espaço que lhe é interior e exterior de uma só vez? E os viciados também, e os possuídos; o possuído, cujo corpo se torna inferno; os estigmatizados, cujo corpo se torna sofrimento, redenção e salvação, paraíso sangrento.
Fui realmente tolo ainda há pouco ao acreditar que o corpo nunca esteve em outro lugar, que ele era um “aqui” irremediável e que se opunha a qualquer utopia.Meu corpo, na verdade, está sempre em outros lugares, ligado a todos os lugares do mundo, e ligado a todo o resto do mundo, e ele está em outro lugar além do mundo. Pois é e torno dele que as coisas são dispostas, é comparado a ele – e comparado a ele como a um soberano – que há um “cima”, um “baixo”, uma direita, uma esquerda, um “trás”, uma “frente”, um “próximo”, um “distante”. O corpo é o marco zero do mundo, onde os caminhos e os espaços se atravessam o corpo não está: está no coração do mundo este pequeno núcleo utópico a partir do qual eu sonho, eu falo, eu avanço, eu imagino, eu percebo as coisas em seu lugar e as nego também pelo poder indefinido das utopias que imagino. Meu corpo é como a Cidade do Sol, ele não tem lugar, mas é dele que saem e que irradiam todos os lugares possíveis, reais ou utópicos.
Afinal, as crianças levam bastante tempo até saberem que têm um corpo. Durante meses, durante mais de um ano, eles não têm mais que um corpo disperso, membros, cavidades, orifícios, e tudo isso não se organiza, tudo isso não toma literalmente forma a não ser na imagem do espelho. De uma forma ainda mais estranha, os gregos homéricos não tinham nenhuma palavra para designar a unidade do corpo. Por mais paradoxal que seja, antes de Troia, sob as paredes defendidas por Heitor e seus companheiros, não havia corpo, havia braços levantados, seios corajosos, pernas ágeis, capacetes reluzentes sobre suas cabeças: não havia corpo. A palavra grega para “corpo” não aparece em Homero a não ser para designar o cadáver.
É este cadáver, portanto, são o cadáver e o espelho que nos ensinam (bem, que ensinaram aos gregos e agora ensinam às crianças) que temos um corpo, que esse corpo tem uma forma, que essa forma tem um contorno, que neste contorno há uma espessura, um peso; em suma, que o corpo ocupa um lugar. São o espelho e o cadáver que atribuem um espaço para a experiência profunda e originalmente utópica do corpo; são o espelho e o cadáver que silenciam, acalmam e fecham em uma cerca – que agora está selada para nós – a grande raiva utópica que deteriora e volatiliza a cada momento o nosso corpo.
É graças a eles, graças ao espelho e ao cadáver, que o nosso corpo não é mera e simples utopia. Mas se pensarmos que a imagem do espelho é acomodada por nós em um espaço inacessível e que nunca poderemos estar onde estará nosso cadáver, se pensarmos que o espelho e o cadáver estão, eles mesmos, em um lugar invencível, descobrimos, então, que apenas as utopias podem fechar-se sobre si mesmas e esconder, por um momento, a utopia profunda e soberana de nosso corpo.
Talvez devêssemos dizer também que fazer amor é sentir seu corpo fechar-se sobre si mesmo, é finalmente existir fora de qualquer utopia, com toda a sua densidade, nas mãos de outrem. Sob os dedos do outro que lhe percorrem, todas as partes invisíveis do seu corpo começam a existir, contra os lábios do outro, os seus começam a existir, contra os lábios do outro, os seus ficam sensíveis, frente a seus olhos semicerrados, seu rosto adquire uma certeza, há um olhar, enfim, para ver suas pálpebras fechadas.
O amor também, como o espelho e como a morte, acalma a utopia de seu corpo, ele a silencia, a acalma, ele a encerra como que dentro de uma caixa, ele a fecha e a sela. É por isso que ele está tão intimamente relacionado à ilusão do espelho e à ameaça de morte; e se, apesar dessas figuras perigosas que o cercam, gostamos tanto de fazer amor, é porque no amor o corpo está aqui.
Michel Foucault
Download do e-book
Baixe aqui a Utopia do Corpo, de Michel Foucault, para você ler em seu celular, tablet ou e-reader. Abaixo, as versões disponíveis:
Acredito que a palavra segue sendo meu ponto fraco.
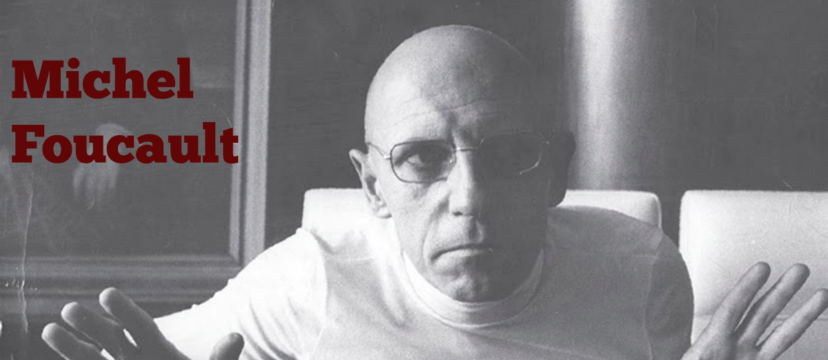

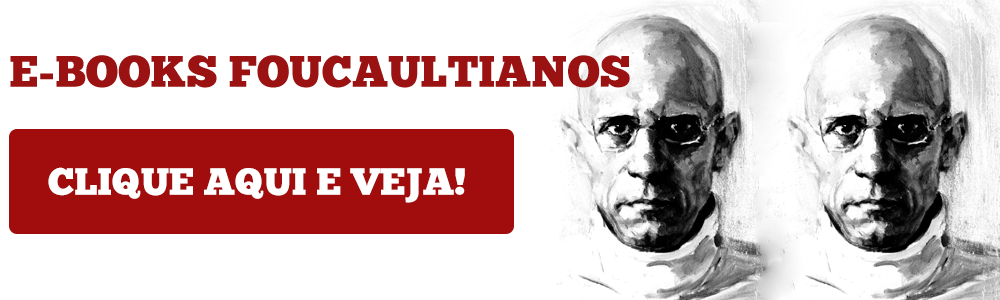
não consigo baixar.. o popup do facebook nao deixa!
Você precisa curtir nossa página para ele liberar o link.
Curti a página, fiz share no Tweeter e não tenho acesso ao e-book! 🙁
OK, TUDOO RESOLVIDO! Obrigada