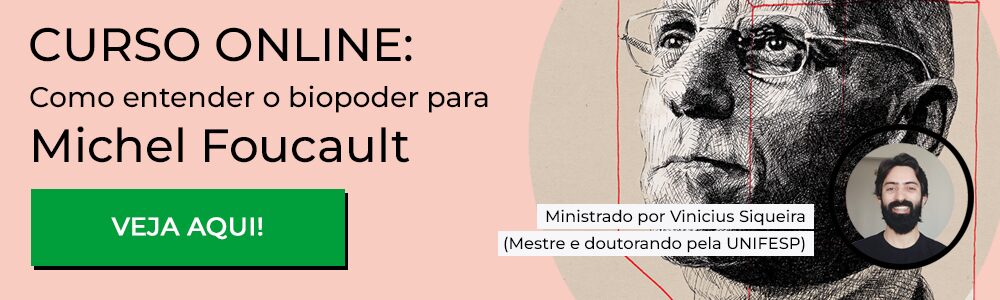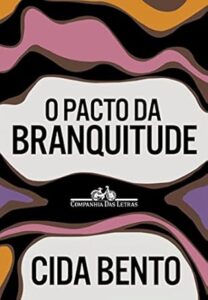
O funcionamento do sistema capitalista depende da prática do racismo. Se os países metrópole o utilizaram em seu territórios colônia, nos próprios países ex-colonia, a perpetuação do racismo é elemento central na expropriação de mais-valia. O objetivo do presente texto é apresentar as ligações entre racismo e capitalismo segundo Cida Bento e seu livro O Pacto da Branquitude (2022).
Parte deste funcionamento envolve a construção de uma história nacional em que negros não ocupavam espaços de protagonismo, como se não tivessem feito ativamente a história do Brasil. Ao mesmo tempo, segundo Sueli Carneiro (2005), na desvalorização dos saberes e das culturas praticadas pela população escrava e ex-escrava brasileira.
A história dos quilombos, assim como a de muitos importantes levantes ou revoltas que ocorreram antes da abolição, forçando o fim da escravidão, é omitida na historiografia oficial. Isso pode ter ocorrido para não ferir a imagem de país da suposta democracia racial ou, ainda, para não reconhecer o protagonismo da população negra na história nacional (BENTO, 2022, pp. 29-30).
O mito da democracia racial em conjunto com a necessidade de construir um país democraticamente branco tornou necessário este apagamento. É interessante compreender que a democracia racial presente no mito, na prática, é uma democracia gerida por brancos. A suposta harmonia racial estaria presente a partir do branco, pois “por mais que a branquitude tenha criado o conceito de raça, essas pessoas se veem e se projetam no lugar de ‘ser genérico’ de ‘sujeito universal’; elas, em si, são a representação do humano” (PINHEIRO, 2023, p. 36).
Do ponto de vista discursivo, a interpretação é uma prática ativa de atribuição de sentido. Trata-se de um sentido que não se basta no objeto interpretado, mas que também traduz um sentido sobre si enquanto sujeito que interpreta. Ou seja, numa tradição de análise do discurso de Michel Pêcheux, a interpretação é uma prática que revela o local onde o interpretador se localiza. Assumo que local é uma junção entre uma formação ideológica e uma formação discursiva, ambas particulares, que definem as possibilidades de atribuir sentido na relação entre interlocutores.
Desta forma, a interpretação de um fato ou de um acontecimento histórico é fabricação ativa de sentido para a história:
De fato, trabalhar o território da memória é reafirmar que não se trata apenas de recordação ou interpretação. Memória é também construção simbólica, por um coletivo que revela e atribui valores à experiência passada e reforça os vínculos da comunidade. E memória pode ser também a revisão da narrativa sobre o passado “vitorioso” de um povo, revelando atos anti-humanitários que cometeram — os quais muitas vezes as elites querem apagar ou esquecer (BENTO, 2022, p. 30).
Quando se diz que a história é contada pelos vencedores, o que está em jogo é o monopólio do sentido atribuido aos fatos históricos arbitrariamente selecionados para que a própria história faça algum sentido. A insurreição de saberes de Michel Foucault trabalha justamente na possibilidade de emergência dos saberes derrotados, na medida em que sua derrota não significa sua inutilidade, mas sim uma relação de violência e dominação produzida sobre os sujeitos produtores e reprodutores destes saberes. Tomando como base esta insurreição:
Movimentos sociais como o de mulheres negras, quilombolas e indígenas desestabilizam as relações de colonialidade, construindo contranarrativas que trazem novas perspectivas e paradigmas, e, além da denúncia, procuram protagonizar ação política contra a expropriação de riquezas e a brutalidade que sustentam a sociedade e o regime político no qual vivemos (BENTO, 2022, p. 31).
O apagamento deste modo de contar a história, de produzir sentido, de produzir memória é diretamente relacionado ao funcionamento da lógica de exploração do trabalho assalariado no modo de produção capitalista. Este sistema econômico e social não é descolado das lógicas de dominação e exploração baseadas na raça, etnia e gênero. Por exemplo, as tomadas de terras indígenas ou a gestão do trabalho reprodutivo são diretamente relacionados ao modo de produção vigente e ao interesses das classes dominantes, seguindo a teoria de Karl Marx. Como acréscimo a ela, Bento insere o fato de que classe tende a ser correlacionado, também, à supremacia branca. Uma identidade de classe que se faz como identidade de raça. Ao mesmo tempo, o golpe de violência simbólica está no fato de que a racialização é o do outro, desta forma, a branquitude não se faz enquanto raça, mas enquanto universalidade do ser humano. Tudo se passa como se o sujeito branco fosse o representante perfeito da raça biológica humana e do fundamento de sua ontologia.
Aliás, capital e raça já se uniram há séculos: do tráfico negreiro transatlântico à destruição da população maia, asteca e guarani; dos combates portugueses na África Central aos inúmeros massacres em terras colonizadas por países europeus. É imprescindível romper a aliança entre classes, elites políticas, educacionais, culturais e econômicas e uma parte da classe trabalhadora reunida pela supremacia branca, que vem possibilitando a reprodução do sistema do capitalismo racial (BENTO, 2022, pp. 31-32).
É necessário compreender que o capitalismo é racista não somente no território brasileiro. Mesmo em nações europeias, o racismo ainda permanece sob formas específicas e, em relação ao negro, ele permanece da mesma maneira. Concretamente, foi fruto do racismo a eficiência na exploração da mão de obra no Brasil. Os países da Europa se assentam nos frutos do racismo e da escravidão.
Destruir a aliança entre elites e classes em torno da supremacia branca é essencial para desmantelar o aspecto racista do sistema econômico. Tomando como base o entendimento de que este sistema é dependente do racismo, então a quebra desta aliança é um passo para a quebra do próprio sistema econômico como se apresenta.
Rompendo essas alianças, a identificação de parcela da classe trabalhadora com líderes supremacistas violentos será dificultada. Nesse contexto encontra-se a perspectiva da teoria da personalidade autoritária, que marca as abordagens que fiz sobre branquitude em meus primeiros escritos, por volta de fins dos anos 1990. Essa perspectiva contribuiu para o entendimento da construção e manutenção das desigualdades raciais e de gênero, entre outras, nas instituições e no sistema político e econômico em que estamos mergulhados, pois trata especialmente o supremacismo branco enquanto expressão da antidemocracia. Busca, então, compreender a identificação de parcela das populações com líderes autoritários, em lugares onde se instalam regimes totalitários (BENTO, 2022, p. 32).
Compreendo que o próprio sistema capitalista racista é a representação da antidemocracia citada acima. Entendo, também, que quando se fala de regimes totalitários, não se está falando de regimes comunistas ou fascistas, na medida em que o contexto brasileiro é o foco da pesquisa de Cida Bento. Desta forma, o totalitarismo seria o conceito para descrever o sistema capitalista sob a ótica antirracista. Um sistema de gestão completa do corpo do negro e do branco por meio de uma hierarquia racial e de uma previsibilidade de destinos sociais dividos por raça.
Referências
BENTO, C. O pacto da branquitude. São Paulo: Companhia das Letras, 2022. Versão digital. Disponível em <<https://elivros.love/livro/baixar-livro-o-pacto-da-branquitude-cida-bento-em-epub-pdf-mobi-ou-ler-online>>.
CARNEIRO, A. S. A construção do outro como não-ser como fundamento do ser. Programa de pós-graduação em Educação da Universidade de São Paulo – USP. Tese de Doutorado, 2005.
PINHEIRO, B. Como ser um educador antirracista. São Paulo: Planeta do Brasil, 2023.
Instagram: @viniciussiqueiract
Vinicius Siqueira de Lima é mestre e doutorando pelo PPG em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência da UNIFESP. Pós-graduado em sociopsicologia pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo e editor do Colunas Tortas.
Atualmente, com interesse em estudos sobre a necropolítica e Achille Mbembe.
Autor dos e-books:
Fascismo: uma introdução ao que queremos evitar;
Análise do Discurso: Conceitos Fundamentais de Michel Pêcheux;
Foucault e a Arqueologia;
Modernidade Líquida e Zygmunt Bauman.