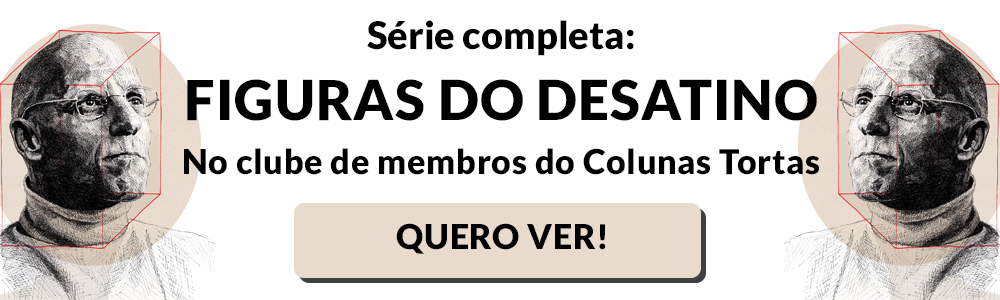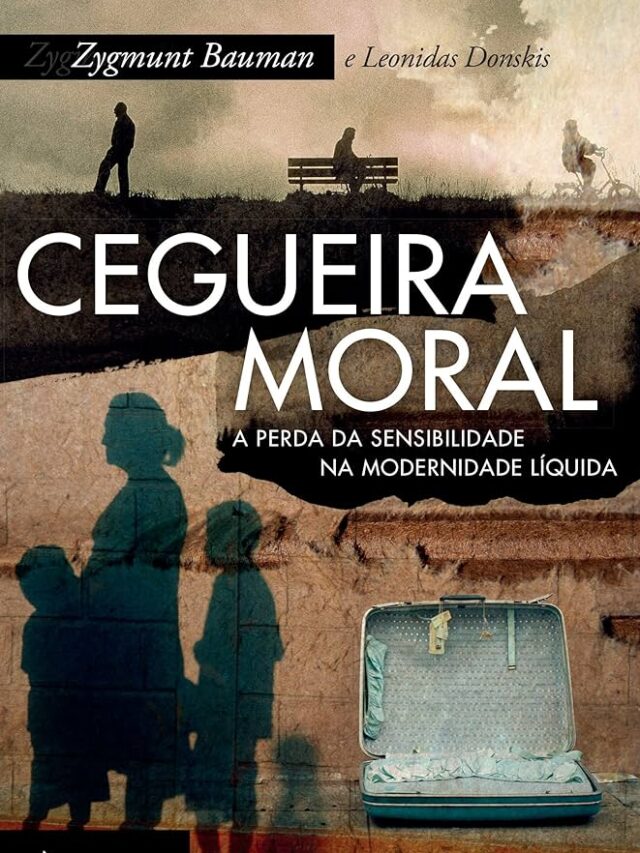MBEMBE, Achille. Políticas da inimizade. São Paulo, SP: N-1 edições, 2020, p. 98-101, 105.
Mas o que se deve entender por nanorracismo, senão essa forma narcótica do preconceito de cor que se expressa nos gestos aparentemente inócuos do dia a dia, por causa de uma insignificância, uma afirmação aparentemente inconsciente, uma brincadeira, uma alusão ou uma insinuação, lapso, uma piada, algo implícito e, que se diga com todas as letras, uma malícia voluntária, uma intenção maldosa, um menosprezo ou um estorvo deliberados, um obscuro desejo de estigmatizar e, acima de tudo, de agredir, de ferir e humilhar, de profanar aquele que não consideramos como sendo dos nossos?
Obviamente, na era do nanoterrorismo desavergonhado, quando se trata apenas dos nossos e do outro, pouco importa se com maiúsculas ou minúsculas, ninguém mais quer ouvir falar disso. Pois que fiquem lá onde vivem, ouve-se dizer. Ou se teimam em querer morar perto de nós, onde nós vivemos, deve ser com o traseiro à mostra, de calças arriadas, a descoberto. A era do nanorracismo é de fato a era do racismo imundo, do racismo da navalha encardida, do espetáculo dos porcos chafurdando na lama.
Sua função é transformar cada um de nós em celerados com luvas de pelica. É colocar em condições intoleráveis o maior número possível daqueles e daquelas que consideramos indesejáveis, encurralá-los cotidianamente, infligir-lhes reiteradamente um número incalculável de golpes e feridas, privá-los de qualquer direito adquirido, enfumaçar a colmeia e aviltá-los a tal ponto que não lhes reste escolha além da autodeportação. E já que estamos falando de feridas racistas, ainda precisamos estar cientes de que se trata geralmente de lesões ou cortes sofridos por um sujeito humano atingido por um ou mais golpes de um caráter bem específico – golpes dolorosos e difíceis de esquecer, porque atingem o corpo e sua materialidade, mas também e acima de tudo o intangível (a dignidade, a autoestima). Seus vestígios, no mais das vezes, são invisíveis e seus ferimentos, difíceis de cicatrizar.
E já que estamos falando de lesões e cortes, ainda precisamos estar cientes de que, tanto nesse banco de gelo em que tende a se converter a Europa quanto na América, na África do Sul e no Brasil, no Caribe e em outros lugares, temos agora que contar às centenas de milhares aqueles e aquelas que sofrem todos os dias feridas racistas. Eles correm com frequência o risco de serem atingidos com toda a força por alguém, por uma instituição, uma voz, uma autoridade pública ou provada que lhes exige que justifiquem quem são, porque estão ali, de onde vêm, para onde vão, por que não voltam para o lugar de onde vieram, uma voz ou autoridade que busca de maneira deliberada provocar-lhes um menor ou maior choque, irritá-los, ofendê-los, injuriá-los, fazê-los sair dos eixos, justamente para ter o pretexto necessário para profaná-los, para sem nenhum pudor violar aquilo que lhes é mais privado, mais íntimo e mais vulnerável.
Em se tratando de violação reiterada, cabe ainda ressaltar que o nanorracismo não é prerrogativa do “branco pobre”, esse subalterno corroído pelo ressentimento e pelo rancor, que odeia profundamente sua condição, mas que não se esfalfaria por qualquer migalha, e cujo pior pesadelo é acordar um dia recoberto com a pele negra ou com a pele morena de um árabe, não lá longe, em uma longínqua colônia de outrora, mas sim – e seria este o cúmulo – aqui mesmo, em casa, em seu próprio país.
O nanorracismo tornou-se o complemento necessário do racismo hidráulico, o dos micro e macrodispositivos jurídico-burocráticos e institucionais, da máquina estatal que mergulha de cabeça na fabricação de clandestinos e ilegais; que isola de maneira incessante a ralé em campos na periferia das cidades, como um amontoado de objetos desconjuntados. que multiplica em profusão os “sem papéis”; que pratica ao mesmo tempo a expulsão do território e a eletrocussão nas fronteiras, quando não se acomoda pura e simplesmente ao naufrágio em alto-mar; que aos quatro ventos fiscaliza os rostos que se encaixam num determinado perfil étnico, nos ônibus, nos aeroportos, no metrô, na rua; que desvela as muçulmanas e freneticamente ficha seus familiares; que multiplica os centros de retenção e de detenção e os campos de trânsito; que investe, sem considerar os custos, em técnicas de deportação; que discrimina e pratica a segregação à plena luz do dia, ao mesmo tempo que professa a neutralidade e a imparcialidade do Estado laico republicano indiferente à diferença; que invoca a toro e a direito essa putrefação a céu aberto que não provoca mais nenhuma ereção, mas que se insiste em chamar, na contramão do bom senso, de “direitos do homem e do cidadão”.
O nanorracismo é o racismo tornado cultura e respiração, em sua banalidade e capacidade de se infiltrar nos poros e veias da sociedade, neste momento de embrutecimento generalizado, de descerebração mecânica e de enfeitiçamento em massa. O grande temor, visceral, é o medo das saturnais, quando os djinns de hoje, que bem nos poderiam convencer de serem os mesmos de outrora, esses dejetos de cascos fendidos, ou seja, os negros, os árabes, os muçulmanos – e, como não poderia deixar de ser, os judeus -, tomarão o lugar dos senhores e transformarão a nação num imenso lixão, o lixão de Maomé.
[…]
Mas se o racismo se tornou tão insidioso, é porque ele agora faz parte dos dispositivos pulsionais e da subjetividade econômica do nosso tempo. Ele não se tornou apenas mais um produto de consumo da mesma categoria que outros bens, objetos e mercadorias. Neste tempos de indecência, ele é também o recurso sem o qual simplesmente inexiste a “sociedade do espetáculo” que Guy Debord descreveu. Em muitos casos, ele adquiriu um status suntuário. Passou a ser algo que nos permitimos não por se tratar de algo incomum, mas em resposta ao apelo generalizado à lubricidade lançado pelo neoliberalismo. Ficou esquecida a greve geral, abrindo-se espaço para a brutalidade e a sensualidade. Nesta época dominada pela paixão pelo lucro, essa combinação de luxúria, brutalidade e sensualidade favorece o processo de assimilação do racismo pela “sociedade do espetáculo” e sua molecularização pelos dispositivos do consumo contemporâneo.
Ele é praticado sem que se tenha consciência disso. Depois ficamos surpresos quando o outro nos chama a tenção ou nos adverte. Ele alimenta nossa necessidade de diversão e nos permite escapar ao tédio reinante e à monotonia. Fingimos acreditar que não passam de atos inofensivos que não têm a importância que lhes é atribuída. Ficamos ofendidos que um policiamento de outra ordem nos prive do direito de rir, do direito a um humor que nunca é dirigido contra si mesmo (autodepreciação) ou contra os poderosos (a sátira propriamente dita), mas sempre contra os que são mais fracos que nós – o direito de rir às custas daquele que se busca estigmatizar. O nanorracismo divertido e desenfreado, completamente idiota, que tem prazer em chafurdar na ignorância e reivindica o direito à estupidez e à violência nela fundada – é esse, pois, o espírito dos nossos tempos.
Instagram: @viniciussiqueiract
Vinicius Siqueira de Lima é mestre e doutorando pelo PPG em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência da UNIFESP. Pós-graduado em sociopsicologia pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo e editor do Colunas Tortas.
Atualmente, com interesse em estudos sobre a necropolítica e Achille Mbembe.
Autor dos e-books:
Fascismo: uma introdução ao que queremos evitar;
Análise do Discurso: Conceitos Fundamentais de Michel Pêcheux;
Foucault e a Arqueologia;
Modernidade Líquida e Zygmunt Bauman.