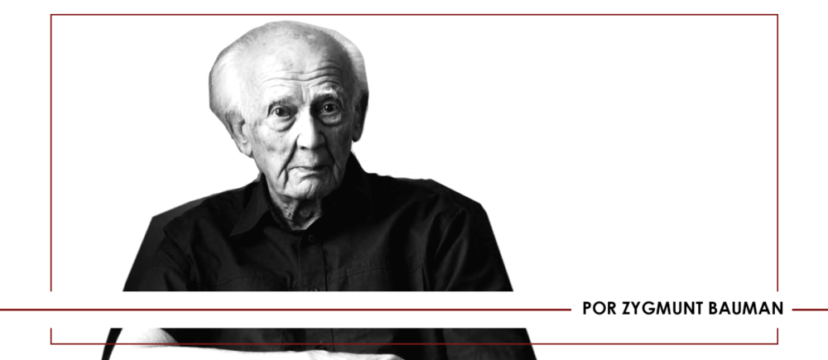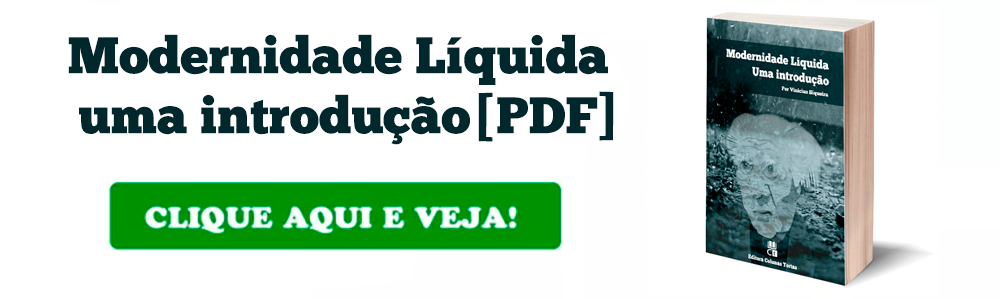BAUMAN, Z. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005, p 27-29.
A ficção da “natividade do nascimento” desempenhou o papel principal entre as fórmulas empregadas pelo nascente Estado moderno para legitimar a exigência de subordinação incondicional de seus indivíduos (de alguma forma, curiosamente, desprezada por Max Weber em sua tipologia das legitimações). Estado e nação precisavam um do outro. Seu casamento, alguém poderia dizer, foi oficiado no céu… O Estado buscava a obediência de seus indivíduos representando-se como a concretização do futuro da nação e a garantia de sua continuidade. Por outro lado, uma nação sem Estado estaria destinada a ser insegura sobre o seu passado, incerta sobre o seu presente e duvidosa de seu futuro, e assim fadada a uma existência precária. Não fosse o poder do Estado de definir, classificar, segregar, separar e selecionar, o agregado de tradições, dialetos, leis consuetudinárias e modos de vida locais, dificilmente seria remodelado em algo como os requisitos de unidade e coesão da comunidade nacional. Se o Estado era a concretização do futuro da nação, era também uma condição necessária para haver uma nação proclamando – em voz alta, confiante e de modo eficaz – um destino compartilhado. A regra cuius regio, eius natio (quem governa decide a nacionalidade) é de mão dupla…
A “identidade nacional” foi desde o início, e continuou sendo por muito tempo, uma noção agonística e um grito de guerra. Uma comunidade nacional coesa sobrepondo-se ao agregado de indivíduos do Estado estava destinada a permanecer não só perpetuamente incompleta, mas eternamente precária – um projeto a exigir uma vigilância contínua, um esforço gigantesco e o emprego de boa dose de força a fim de assegurar que a existência fosse ouvida e obedecida (Ernest Renan chamou a nação de “um plebiscito diário” – apesar de estar falando da experiência do Estado francês, conhecido desde a era napoleônica por suas ambições notavelmente centralizadoras). Nenhuma dessas condições seria atendida não fosse pela superposição do território domiciliar com a soberania indivisível do Estado – que, como sugere Agamben (seguindo Carl Schmitt), consiste antes de mais nada no poder de exclusão. Sua raison d’être era traçar, impor e policiar a fronteira entre “nós” e “eles”. O “pertencimento” teria perdido o seu brilho e o seu poder de sedução, junto com a sua função integradora/disciplinadora, se não fosse constantemente seletivo nem alimentado e revigorado pela ameaça e prática de exclusão.
A identidade nacional, permita-me acrescentar, nunca foi como as outras identidades. Diferentemente delas, que não exigiam adesão inequívoca e fidelidade exclusiva, a identidade nacional não reconhecia competidores, muito menos opositores. Cuidadosamente construída pelo Estado e suas forças (ou “governos à sombra” ou “governos no exílio” no caso de nações aspirantes – “nações in spe“, apenas clamando por um Estado próprio), a identidade nacional objetivava o direito monopolista de traçar a fronteira entre “nós” e “eles”. À falta do monopólio, os Estados tentaram assumir a incontestável posição de supremas cortes passando sentenças vinculantes e sem apelação sobre as reivindicações de identidades litigantes.
Tal como as leis dos Estados passaram por cima de todas as formas de justiça consuetudinária, tornando-as nulas e inválidas em casos de conflito, a identidade nacional só permitira ou toleraria essas outras identidades se elas não fossem suspeitas de colidir (fosse em princípio ou ocasionalmente) com irrestrita prioridade da lealdade nacional. Ser indivíduo de um Estado era a única características confirmada pelas autoridades nas carteiras de identidade e nos passaportes. Outras identidades, “menores”, eram incentivadas e/ou forçadas a buscar o endosso-seguido-de-proteção dos órgãos autorizados pelo Estado, e assim confirmar indiretamente a superioridade da “identidade nacional” com base em decretos imperiais ou republicanos, diplomas estatais e certificados endossados pelo Estado. Se você fosse ou pretendesse ser outra coisa qualquer, as “instituições adequadas” do Estado é que teriam palavra final. Uma identidade não-certificada era uma fraude. Seu portador, um impostor – um vigarista.
A severidade das exigências era um reflexo da endêmica e incurável precariedade do trabalho de construir e manter a nação. Permitam-me repetir: a “naturalidade” do pressuposto de que “pertencer-por-nascimento” significava, automática e inequivocamente, pertencer a uma nação foi uma convenção arduamente construída – a aparência de “naturalidade” era tudo, menos “natural”. Diferentemente das “minissociedades de familiaridade mútua” – as localidades em que a maioria dos homens e mulheres da era pré-moderna e pré-mobilidade passavam suas vidas do berço ao túmulo -, a “nação” foi uma entidade imaginada que só poderia ingressar na Lebenswelt se fosse mediada pelo artifício de um conceito. A aparência de naturalidade, e assim também a credibilidade do pertencimento declarado, só podia ser um produto final de antigas batalhas postergadas. E a sua perpetuação não poder garantida a não ser por meio de batalhas ainda por vir.
Entre em nosso canal no telegram: https://t.me/colunastortas.
O Colunas Tortas é uma proto-revista eletrônica cujo objetivo é promover a divulgação e a popularização de autores de filosofia e sociologia contemporânea, sempre buscando manter um debate de alto nível – e em uma linguagem acessível – com os leitores.
Nietzsche, Foucault, Cioran, Marx, Bourdieu, Deleuze, Bauman: sempre procuramos tratar de autores contemporâneos e seus influenciadores, levando-os para fora da academia, a fim de que possamos pensar melhor o nosso presente e entendê-lo.