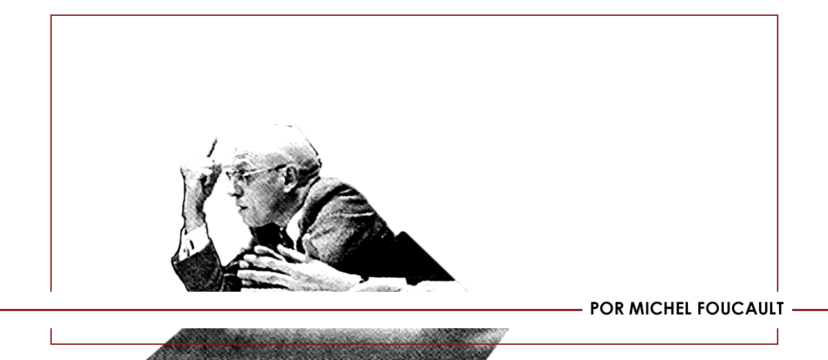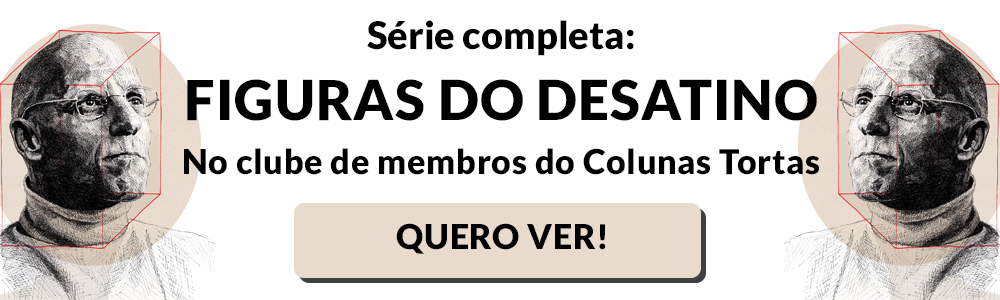FOUCAULT, Michel. Do governo dos vivos. 1ª edição. Martins Fontes: São Paulo, 2014, p. 85-89.
Tratar-se-ia portanto, nas aulas seguintes, de estudar o cristianismo – bem, é claro, alguns aspectos parciais do cristianismo: encarar esses aspectos não do ponto de vista da ideologia, como lhes explicava da última vez, mas [pelo ângulo] do que lhes propunha chamar de regimes de verdade. E por regime de verdade entendo o que força os indivíduos a um certo número de atos de verdade, no sentido que defini para vocês da última vez.
Um regime de verdade é portanto o que constrange os indivíduos a esses atos de verdade, o que define, determina a forma desses atos e estabelece para esses atos condições de efetivação e efeitos específicos. Em linhas gerais, podemos dizer, um regime de verdade é o que determina as obrigações dos indivíduos quanto aos procedimentos de manifestação do verdadeiro. O que quer dizer a adjunção dessa noção de obrigação em relação à noção de manifestação da verdade? Em que a verdade obriga, além do fato de que ela se manifesta? É legítimo supor que além ou aquém dessas regras de manifestação, a verdade obriga? Em outras palavras, é legítimo falar de regime de verdade? Qual é a legitimidade, o fundamento, a justificativa de uma noção como a de regime de verdade? É um pouco disso que eu gostaria de lhes falar hoje, pelo menos para começar.
Regime de verdade. Fala-se de regime política, de uma maneira que talvez não seja muito clara mas que mesmo assim é relativamente satisfatória, para, resumidamente, designar o conjunto dos procedimentos e das instituições pelas quais os indivíduos se veem comprometidos, de uma maneira mais ou menos premente, se veem constrangidos a obedecer decisões; decisões que emanam de um autoridade coletiva no âmbito de unidades territoriais em que essa autoridade exerce um direito de soberania. Pode-se falar [igualmente] de regime penal, por exemplo, para designar, também nesse caso, o conjunto dos procedimentos e instituições pelos quais os indivíduos são comprometidos, determinados, constrangidos a se submeter a leis de alcance geral. Então, nessas condições, por que de fato não falar de regime de verdade para designar o conjunto dos procedimentos e instituições pelos quais os indivíduos são comprometidos e forçados a realizar, em certas condições e com certos efeitos, atos bem definidos de verdade? Por que, afinal, não falar das obrigações de verdade como [se fala] das constrangências políticas ou das obrigações jurídicas? Obrigações de fazer isto, obrigações de dizer a verdade: não são elas, até certo ponto, do mesmo tipo ou, em todo caso, não é possível transferir as noções de regime político e de regime jurídico ao problema da verdade? Haveria obrigações de verdade que imporiam atos de crença, profissões de fé [ou] reconhecimentos das faltas com função purificadora.
Me parece que há imediatamente uma objeção que se apresenta a essa ideia de que existe um regime de verdade e de que podemos descrever em sua especificidade os regimes de verdade. Dirão: você fala de regime de verdade, você pega o exemplo do cristianismo, fala dos atos de crença, fala da profissão de fé, fala dos reconhecimentos das faltas, fala da confissão. Vale dizer que todas as obrigações de que você fala, todas essas obrigações de verdade que você evoca, no fundo, dizem respeito tão somente a não-verdade, ou então são indiferentes ao fato de que se trate ou não de verdade, de verdadeiro ou falso. Com efeito, o que significa esse vínculo de obrigação que amarraria os indivíduos à verdade ou os constrangeria a colocar alguma coisa como verdadeira, senão precisamente porque não é verdade ou porque é indiferente que seja verdadeiro ou falso? Mais claramente, direi o seguinte: para que haja obrigação de verdade, ou então para que se acrescente às regras intrínsecas de manifestação da verdade algo que é uma obrigação, é preciso, ou que se trate de algo que não pode ser, por si, demonstrado ou manifestado como verdadeiro e que necessita de certo modo esse suplemento de força, esse reforço, esse suplemento de vigor e de obrigação, de constrangência, que faz que você seja obrigado a colocá-lo como verdadeiro, embora saiba que é falso, ou que você não tenha certeza de que seja verdade, ou que não seja possível demonstrar que é verdadeiro ou falso. Afinal de contas, é preciso algo como uma obrigação para crer na ressurreição da carne, ou na trindade, ou em coisas assim. Em outras palavras, em atos desse tipo, não estamos diante de uma verdadeira obrigação de verdade, mas antes do que poderíamos de coercitividade do não-verdadeiro ou coercitividade e constrangência do não-verificável. Ou ainda, poderíamos falar de regime de verdade, de obrigação de verdade, no caso de procedimentos como o ensino ou a informação, procedimentos que são exatamente os mesmos, quer se trate de verdades, de mentiras ou de erros. O ensino é exatamente o mesmo e as obrigações que ele comporta são exatamente as mesmas, quer se ensinem tolices, quer se ensine a verdade. Podemos, portanto, nesses casos falar de obrigação, mas justamente na medida em que a verdade como tal não está envolvida.
Em compensação, quando se trata do verdadeiro, a noção de regime de verdade se torna de certo modo supérflua, e a verdade, no fundo, sem dúvida não necessita de regime, de regime de obrigação. Não é preciso invocar um sistema específico de obrigações que teria como papel fazer valer o verdadeiro, lhe dar força constrangente, sujeitar a ela os indivíduos, se for de fato verdadeiro. Para ser tornar sujeito de verdade, para ser operador numa manifestação da verdade, não é necessário uma constrangência específica. A verdade se basta a si mesma para fazer sua própria lei. E por quê? Simplesmente porque a força de coercitividade da verdade está no próprio verdadeiro. O que me constrange na busca e na manifestação da verdade, o que determina meu papel, o que me assinala a fazer isto ou aquilo, o que me obriga no procedimento de manifestação da verdade é a estrutura do próprio verdadeiro.
Portanto, vocês estão vendo, parece que, no limite, a noção de regime de verdade pode ser mantida, quando se trata de outra coisa que não a verdade, ou quando se trata de coisas que no fundo são indiferentes ao verdadeiro ou ao falso, mas quando se trata do próprio verdadeiro não é preciso regime de verdade.
No entanto, essa objeção que se pode fazer contra a ideia de um regime de verdade e contra o projeto de analisar regimes de verdade em geral nbão me aprece de todo satisfatória. De fato, parece-me que, quando se diz que na verdade o que obriga é o verdadeiro e que somente o verdadeiro é o que obriga, corre-se o risco de desconsiderar uma distinção que a meu ver é importante. De um lado há o princípio de que o verdadeiro é index sui, isto é, tirando-lhe sua significação propriamente spinozista, o princípio de que somente a verdade pode mostrar legitimamente o verdadeiro, de que, em todo caso, somente o jogo do verdadeiro e do falso pode demonstrar o que é verdadeiro. Mas que o verdadeiro seja index sui não quer dizer que a verdade seja rex sui, que a verdade seja lex sui, que a verdade seja judex sui. Não é a verdade que é criadora e detentora dos direitos que exerce sobre os homens, das obrigações que estes têm para com ela e dos efeitos que eles esperam dessas obrigações, uma vez [que] e na medida em que forem cumpridas. Não é a verdade que de certo modo administra seu próprio império, que julga e pune os que lhe obedecem e os que lhe desobedecem. Não é correto que a verdade só é constrangente pelo verdadeiro. Para [exprimir] as coisas mais simplesmente, de uma forma quase infantil ou totalmente infantil: em todos os raciocínios, por mais rigorosamente construídos que os imaginemos, e mesmo no fato de reconhecer algo como uma evidência, sempre há, e sempre há que se supor, uma certa afirmação, uma afirmação que não é da ordem lógica da constatação ou da dedução, em outras palavras, uma afirmação que não é exatamente da ordem do verdadeiro e do falso, que é antes uma espécie de comprometimento, de profissão. Sempre há, em todo raciocínio, essa afirmação ou profissão que consiste em dizer: se é verdadeiro, eu me inclinarei; é verdade, logo eu me inclino; é verdade, logo estou vinculado. Mas esse “logo” do “é verdade, logo me inclino; é verdade, logo estou vinculado”, esse “logo” não é um “logo” lógico, não pode repousar em nenhuma evidência, aliás não é unívoco. Se num certo número de casos, num certo número de jogos de verdade, como a lógica das ciências, esse “logo” é tão evidente que é como que transparente e que não nos damos conta da sua presença, mesmo assim, como um pouco de recuo e quando tomamos a ciência como um fenômeno histórico, o “é verdade, logo me inclino” se torna muito mais enigmático, muito mais obscuro. Esse “logo” que vincula o “é verdade” e o “eu me inclino” ou que dá à verdade o direito de dizer: você tem de me aceitar porque sou a verdade – nosso “logo”, nesse “você tem de”, “você é obrigado”, “você deve se inclinar”, nesse “você deve” da verdade existe algo que não decorre da própria verdade, o “você deve” imanente à manifestação da verdade é um problema que a ciência em si mesma não pode justificar e levar em conta por usa vez. Esse “você deve” é um problema, um problema histórico-cultural que, a meu ver, é fundamental.
Entre em nosso canal no telegram: https://t.me/colunastortas.
O Colunas Tortas é uma proto-revista eletrônica cujo objetivo é promover a divulgação e a popularização de autores de filosofia e sociologia contemporânea, sempre buscando manter um debate de alto nível – e em uma linguagem acessível – com os leitores.
Nietzsche, Foucault, Cioran, Marx, Bourdieu, Deleuze, Bauman: sempre procuramos tratar de autores contemporâneos e seus influenciadores, levando-os para fora da academia, a fim de que possamos pensar melhor o nosso presente e entendê-lo.