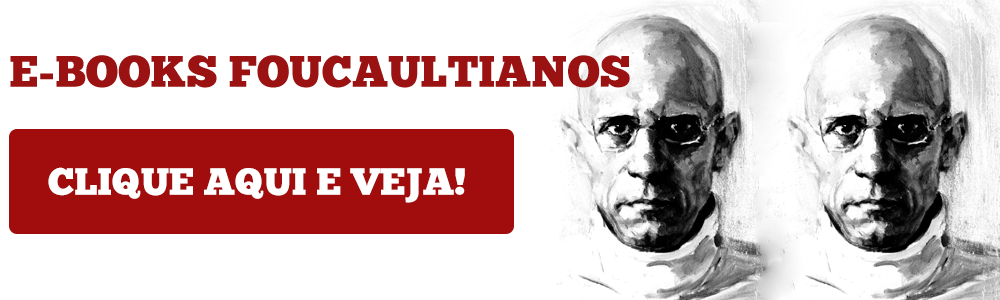Da série “Necropolítica“.
Índice
Introdução
Meu corpo é o oposto de uma utopia, nunca está sob outro céu, é o lugar absoluto, o pequeno fragmento de espaço no qual eu, literalmente falando, me apoio.[1]
O corpo como apoio do eu, desta forma, como materialidade do eu intuitivamente existente. O corpo não se move, intuitivamente é o eu que move o corpo, mas é o corpo que ao se mover, move o eu. O corpo, assim, cruzado por relações de poder e por tipos de saber que o delimitam, o significam, o dão possibilidades socialmente razoáveis, é uma fabricação em que o eu se prende e se liberta. Diferentemente do corpo, o sujeito, por sua vez, pensado enquanto forma, é uma fabricação histórica, social, linguística, econômica. A forma histórica específica do sujeito cria as condições razoáveis da manipulação do corpo pelo mundo. O sujeito pode ser entendido como o corpo no mundo social, um corpo que não é somente pensado a partir da limitação do eu e da introspecção.
O corpo é o campo (porque as forças atravessam e constituem a realidade corpórea, não há força sem corpo) de forças múltiplas, convergentes e contraditórias, e o próprio lugar da sedimentação de seus combates.[2]
O corpo, por exemplo, submetido ao poder disciplinar (e diferentemente do entendimento tradicional do sujeito autocentrado), é um corpo que “pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado”[3]. Não se trata de observar a consciência, mas o corpo, na medida em que é justamente aí por onde passa o procedimento da microfísica do poder foucaultiana. Assim, a observação materialista e histórica do corpo resulta no
foco na corporeidade de cada indivíduo – com seus hábitos, instintos, pulsões, sentimentos, emoções, impulsos e vicissitudes – como o ponto fundamental sobre o qual atua um emaranhado complexo de uma série de lutas e de confrontos inerentes a tais saberes, no processo de produção de poder.[4]
O corpo, enquanto elemento relacionado ao eu, pode ser deslocado para a própria condição de possibilidade da existência de um eu conceituado. Ou seja, um corpo distante do eu, mas próximo da realidade concreta: o corpo como elemento da história e como alvo, pois observar uma microfísica do poder sobre os corpos:
se distingue, portanto, de uma “história das mentalidades”, pois não se limita a considerar como os corpos foram percebidos e valorizados historicamente, mas busca pesquisar como “se investiu sobre o que há neles de mais material, de mais vivo” (Foucault, História da Sexualidade: Vontade de Saber). Dessa maneira, ele quer explicitar como “as relações de poder operam sobre [o corpo] de modo imediato”.[5]
Desta forma, neste momento introdutório, pode-se compreender que o corpo não é um dado, mas sim um alvo, uma forma flexível, um elemento (nesta perspectiva) não naturalista, mas histórico: tudo aquilo que parece não ter história (como aquilo que se coloca no campo dos instintos) é considerado, assim, como fabricação viva do corpo, como forma histórica, como aquilo que compõe o corpo, como sua condição de possibilidade. O objetivo deste artigo é comentar a possibilidade de se observar o corpo sob a dicotomia entre morte e vida, portanto, sob o olhar acerca das possibilidades da divisão entre o fadado a morrer e o içado a viver a partir de Achille Mbembe e seu livro Políticas da Inimizade.
Necropoder
A partir da consideração do corpo como elemento flexível de atravessamento das relações de poder e, portanto, como elemento histórico, torna-se compreensível o entendimento de um necropoder que, num dado momento de seu funcionamento, fabrica corpos matáveis através do racismo. Ou seja, entender o corpo enquanto elemento flexível permite compreender o racismo como mecanismo de exclusão e morte, diferentemente da concepção individualista sobre o problema que é calcada na consideração de que todo racismo parte de uma inadequação ética ou psicológica, individual ou coletiva (mas um coletivo intermediado pela ideia de grupo enquanto associação deliberada de indivíduos)[6] – de certa forma, da consideração de que a esfera do racismo, em vez de sociológica, econômica ou política, seria a da ética ou da patologia, sendo que seus efeitos éticos ou desvios patológicos atingiriam as três esferas anteriormente citadas.
A partir de um entendimento da soberania enquanto prática transgressora da morte[7], as políticas de terror dos Estados modernos podem ser entendidas enquanto parte de um mecanismos de poder:
Nessas formas mais ou menos movediças e segmentadas de administração do terror, a soberania consiste no poder de fabricar toda uma série de pessoas que, por definição, vivem no limite da vida, ou no limite externo da vida – pessoas para quem viver é um constante acerto de contas com a morte, em condições em que a própria morte tende cada vez mais a se tornar algo espectral, tanto em termos de como é sofrida quanto pela forma como é infligida.[8]
Tais mecanismos fabricam corpos para morte, portanto, marcam e demarcam corpos para que a relação com a morte seja próxima o bastante para ser, em certa medida, naturalizada. Naturalizada no corpo daquele que pode ser morto, mas também no corpo daquele que deve viver. Acima de tudo, objetivada na própria sociedade. A vida que não vale à pena não é valorada subjetivamente: a subjetividade que valora está marcada pela possibilidade prática da valoração já afastada dos corpos passíveis de morte. O racismo aparece enquanto possibilidade de ação dos Estados modernos com objetivo de matar – tornar matável – corpos que devem ocupar espaços de subserviência de tal maneira que sirvam para o andamento da ordem vigente.
Tomando como exemplo a situação concreta dos palestinos em território invadido pelo Estado de Israel[9], a serventia econômica materializada na ocupação em subempregos é dispensável: o povo – categoria utilizada por Michel Foucault para definir a contrapartida da população, ou seja, o conjunto de pessoas que não se enquadram na gestão moderna, desviados – serve enquanto conjunto, enquanto reserva, mas não enquanto vida, pois seu estatuto ético é quase nulo.
Vida supérflua, portanto, essa cujo preço é tão baixo que não possui equivalência própria, nem em termos mercantis muito menos em termos humanos; essa espécie de vida cujo valor está fora da economia e cujo único equivalente é o tipo de morte que lhe pode ser cominada.[10]
O tipo de vida que pode e, no limite, deve morrer, é fabricada pelo Estado moderno racista: o corpo passível da morte pode ser entendido como aquele que é economicamente descartável e imprevisível, distante da ética e reafirmador da vida de seu oposto, do corpo que se faz viver.
“De regra, trata-se de uma morte a qual ninguém se sente obrigado a reagir”[11], salienta Mbembe. Trata-se da construção de um corpo que, ao ser tão apto à morte, é inapto à sensibilidade. Trata-se de um corpo que, em sua classificação, não se localiza num campo de sensibilidade, na medida em que já não é considerado um alguém, sujeito de direitos, mas um morto-vivo, com morte anunciada. Na necropolítica, os corpos fabricados para a morte não emergem para sobreviver à vida, para aumentar seu tempo de vida, para sonhar com a eternidade: são corpos fadados à morte e, quando esta é necessária, jogados ao dilaceramento.
Aquele que vive
A fabricação dos corpos para morte enseja a fabricação dos corpos para vida. Em sua relação, os corpos que vivem não sentem pelos corpos que morrem, pois os corpos que morrem já não são semelhantes – nem mesmo distantes. O outro necropolítico se desvanece aos poucos, se dissimula num humano, mas não se concretiza num sujeito. De maneira quase literal: um saco de ossos.
“Em vista desse tipo de vida e desse tipo de morte, ninguém sente nenhum senso de responsabilidade ou de justiça”, pois ambos os termos citados são presentes na gestão administrativa moderna: tanto o foco na responsabilidade como a própria noção de justiça no centro do aparelho estatal através dos aparatos jurídicos. “O poder necropolítico opera por uma espécie de reversão entre a vida e a morte, como se a vida não fosse outra coisa senão o veículo da morte. Ele busca sempre abolir a distinção entre meios e fins”, assim, desenvolve uma máquina de destruição de corpos matáveis que se justifica através dos próprios saberes militares, biológicos e jurídicos gestados na modernidade. O enunciado “não sou coveiro” proferido pelo então presidente do Brasil Jair Bolsonaro em abril de 2020, no início da pandemia do novo coronavírus, não só naturaliza a morte como também evoca justamente a natureza: implacável natureza que mata infectados, mas que também mata não infectados (nesta divisão baseada no imprevisto da natureza já se compreende a justificação das mortes dos infectados como parte do grande conjunto anônimo de ações e efeitos chamado “natureza”); se materializa na não necessidade de se ter responsabilidade ou justiça e termina numa pandemia com mais de setecentos mil mortes no país. Mbembe termina: “É por essa razão que lhe são indiferentes os sinais objetivos da crueldade. Aos seus olhos, o crime constitui parte fundamental da revelação, e a morte de seus inimigos é, em princípio, desprovida de qualquer simbolismo”, que pode ser observado objetivamente na gestão da pandemia do governo Bolsonaro representada pela declaração “Está morrendo gente? Tá. Lamento. Mas vai morrer muito mais se a economia continuar sendo destroçada”[12][13][14].
Aquele vive, não vive enquanto exclui o que deve morrer. Aquele vive nem mesmo reconhece o estatuto de vida dos corpos que devem morrer, que podem ser deixados à morte. O que deve morrer não é destinado às periferias da sociedade, pois seu destino é justamente o lado de fora da sociedade, lugar em que a justiça já não o classifica como sujeito de direitos.
Considerações finais
Na medida em que a fabricação da morte na necropolítica é propositiva, ela perde sua característica sensibilizante, “uma morte assim não tem nada de trágico”.
Na abdicação da tragédia, a técnica de morte se dissemina,
O poder necropolítico pode multiplicá-lo [o crime, o assassinato] ao infinito, seja em pequenas doses (o modo celular e molecular) ou em irrupções espasmódicas – a estratégia dos “pequenos massacres” intermitentes, seguindo uma implacável lógica de separação, estrangulamento e vivissecção, como se vê em todos os palcos contemporâneos do terror e do antiterror.[15]
Desta forma, o corpo que pode ser morto, se faz como corpo não digno de sensibilidade, despido de todo direito moderno, despido de todo estatuto ético e imerso na máquina administrativa moderna como elemento descartável, passível de substituição individual ou de obliteração coletiva.
Referências
[1] FOUCAULT, Michel. A Utopia do Corpo. Traduzido por Victória Monteiro. Colunas Tortas, 2016. Disponível em <<https://colunastortas.com.br/utopia-do-corpo-michel-foucault/>>. Acesso em 02 out 2022.
[2] SILVEIRA, Fernando de Almeida e Furlan, Reinaldo. Corpo e Alma em Foucault: Postulados para uma Metodologia da Psicologia. Psicologia USP [online]. 2003, v. 14, n. 3 [Acessado 3 Outubro 2022] , pp. 171-194. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-65642003000300012>. Epub 05 Maio 2005. ISSN 1678-5177. https://doi.org/10.1590/S0103-65642003000300012.
[3] FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: o nascimento da prisão. 20ª ed. São Paulo: Vozes, 1999, p.117.
[4] SILVEIRA, Fernando de Almeida e Furlan, Reinaldo. Corpo e Alma em Foucault: Postulados para uma Metodologia da Psicologia.
[5] CIRINO, Oscar. Múltiplos corpos em Michel Foucault. Psicol. rev. (Belo Horizonte), Belo Horizonte , v. 24, n. 1, p. 302-317, jan. 2018 . Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-11682018000100020&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 03 out. 2022. http://dx.doi.org/10.5752/P.1678-9563.2018v24n1p302-317.
[6] ALMEIDA, S. . Racismo estrutural. [Structural Racism]. São Paulo: Pólen, 2019. 264 p. ISBN 978-85-98349-75-6.
[7] SIQUEIRA, Vinicius. Política para morte – Achille Mbembe. Colunas Tortas, 2020. Disponível em <<https://colunastortas.com.br/politica-para-morte-achille-mbembe/>>. Acesso em 03 out. 2022.
[8] MBEMBE, Achille. Políticas da inimizade. São Paulo, SP: N-1 edições, 2020, p. 68.
[9] MONTENEGRO, Ana Maria Maciel. Viver e trabalhar em território ocupado: a Palestina e seu povo. Caderno CRH [online]. 2007, v. 20, n. 49 [Acessado 3 Outubro 2022] , pp. 135-149. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-49792007000100011>. Epub 11 Maio 2012. ISSN 1983-8239. https://doi.org/10.1590/S0103-49792007000100011.
[10] MBEMBE, Achille. Políticas da inimizade… p. 68.
[11] Idem.
[12] MBEMBE, Achille. Políticas da inimizade… p. 69.
[13] ‘Não sou coveiro, tá?’, diz Bolsonaro ao responder sobre mortos por coronavírus. G1, 2020. Disponível em <<http://glo.bo/3CvuhAe>>. Acesso em 03 out. 2022.
[14] ‘Está morrendo gente? Tá. Lamento. Mas vai morrer muito mais se a economia continuar sendo destroçada’, diz Bolsonaro. O Globo, 2020. Disponível em <<http://glo.bo/3rtvodk>>. Acesso em 03 out. 2022.
[15] MBEMBE, Achille. Políticas da inimizade… p. 69.
Instagram: @viniciussiqueiract
Vinicius Siqueira de Lima é mestre e doutorando pelo PPG em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência da UNIFESP. Pós-graduado em sociopsicologia pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo e editor do Colunas Tortas.
Atualmente, com interesse em estudos sobre a necropolítica e Achille Mbembe.
Autor dos e-books:
Fascismo: uma introdução ao que queremos evitar;
Análise do Discurso: Conceitos Fundamentais de Michel Pêcheux;
Foucault e a Arqueologia;
Modernidade Líquida e Zygmunt Bauman.