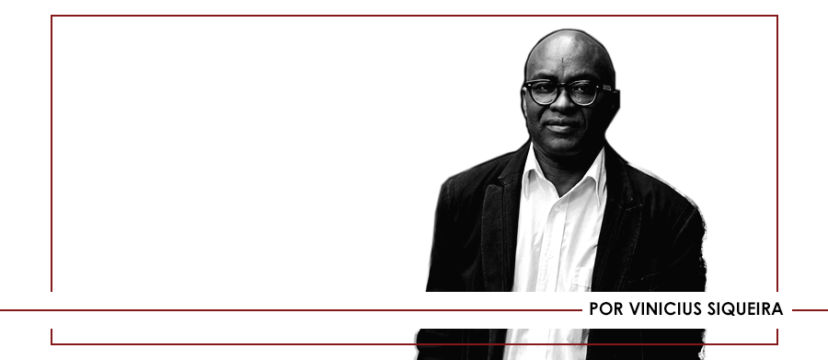Da série “Necropolítica”.
Índice
Introdução
A necessidade de Achille Mbembe, após apresentar uma leitura alternativa sobre a soberania, o sujeito e a morte, é relacioná-la com uma interpretação social apta a demonstrar como os mecanismos de poder podem separar diferentes sujeitos, diferentes corpos, de tal maneira que alguns possam ser designados como potenciais mortos, passiveis da morte, enquanto outros devem ter sua existência preservada. É justamente aqui que a noção de biopoder e racismo de Estado de Michel Foucault podem adquirir espaço.
Mbembe pretende unir as noções de biopoder, estado de exceção e estado de sítio para, assim, compreender a situação própria do que aconteceu nas colônias e nos campos de refugiados (ao longo do presente artigo, teremos foco nas duas primeiras). Para Foucault, o biopoder é uma nova tecnologia de poder que surge no século XVIII:
De que se trata nessa nova tecnologia do poder, nessa biopolítica, nesse biopoder que está se instalando? Eu lhes dizia em duas palavras agora há pouco: trata-se de um conjunto de processos como a proporção dos nascimentos e dos óbitos, a taxa de reprodução, a fecundidade de uma população, etc. São esses processos de natalidade, de mortalidade, de longevidade que , justamente na segunda metade do século XVIII, juntamente com uma porção de problemas econômicos e políticos (os quais não retomo agora), constituíram, acho eu, os primeiros objetos de saber e os primeiros alvos de controle dessa biopolítica.[1]
O biopoder irá lidar com o homem-espécie, não mais com o homem-sujeito. Será a vida biológica o seu alvo: a partir deste princípio, construirá dispositivos de segurança para garantir a longevidade da população. O biopoder faz viver e deixa morrer, diferentemente do poder soberano, que deixa viver e faz morrer, já que seu exercício de poder está relacionado à possibilidade de matar.
Entretanto, é necessário um tipo específico de mecanismo para garantir o exercício da morte por parte do biopoder: trata-se do racismo de Estado. Este, como política de Estado, pode ser definido como:
Meio de introduzir afinal, nesse domínio da vida de que o poder se incumbiu, um corte: o corte entre o que deve viver e o que deve morrer. No contínuo biológico da espécie humana, o aparecimento das raças, a distinção das raças, a hierarquia das raças, a qualificação de certas raças como boas e de outras, ao contrário, como inferiores, tudo isso vai ser uma maneira de fragmentar esse campo do biológico de que o poder se incumbiu; uma maneira de defasar, no interior da população, uns grupos em relação aos outros.[2]
Até mesmo no interior da população há aqueles que não fazem parte das políticas administrativas pretendidas pelos dispositivos de segurança. Aqui se encontra a oposição entre população e povo, sendo a população o corpo submetido à regulação do biopoder e o povo, o corpo que causa estresse à regulação criada, à norma criada[3].
No entanto, o povo só pode entrar em confronto com o mecanismo de poder na medida em que puder ser classificado dentro do racismo próprio deste mecanismo. Pois é necessário uma veste social para o exercício do poder da morte que seja relacionada com o movimento centrípeto do biopoder, a veste biológica. Mbembe argumenta que a raça sempre foi sombra no pensamento sobre as práticas políticas no Ocidente, principalmente naquelas relacionadas à subjugação dos povos estrangeiros.
Referindo-se tanto a essa presença atemporal como ao caráter espectral do mundo da raça como um todo, Arendt localiza suas raízes na experiência demolidora da alteridade e sugere que a política da raça, em última análise, está relacionada com a política da morte.[4]
A função do racismo, por fim, é regular a distribuição dos corpos que podem ser mortos: o trabalho de regulação, de fabricação de normas, do biopoder, para aumento da produtividade do corpo social como um todo, enquanto população, também é um trabalho de regulação daqueles que, enquanto o corpo social específico é qualificado através de caracteres biológicos, poderão ser mortos.
Modernidade e terror
A análise do racismo de Estado feita por Michel Foucault toma como exemplo ilustrativo o extermínio nazista, que foi amparado pelas práticas do imperialismo colonial e pela “serialização de mecanismos técnicos para conduzir as pessoas à morte – mecanismos desenvolvimentos entre a Revolução Industrial e a Primeira Guerra Mundial”[5], argumenta Mbembe. O resultado foi uma criação desumanizadora, que, positivamente, promove o anonimato do corpo morto, do corpo sem face, sem registro, sem nome, somente composto pela sua carcaça biológica.
As câmaras de gás e os fornos nazistas são máquinas de fazer morte. Não são máquinas de matar um ou outro, são máquinas de fazer morte, de fazer morrer, de aglutinar corpos indiferentes para a morte. A multiplicidade é substituída pelo povo: indistinto (na medida em que se distinguem, no todo, dos normais), similar (enquanto não semelhante), próximos (em sua não proximidade com aqueles que operam o biopoder), massas aglutinantes preparadas para uma morte sem luto. Tais tipos de máquina de matar fazem parte de um mecanismo complexo que une a “racionalidade produtiva e administrativa do mundo ocidental moderno (a fábrica, a burocracia, a prisão, o exército). Mecanizada, a execução em série transformou-se em um procedimento puramente técnico, impessoal, silencioso e rápido”[6].
É evidente que as ligações da modernidade com o terror também podem ser vistas desde o Antigo Regime, na França, com a instituição da guilhotina, execuções públicas demoradas para o regozijo da população, inclusive caminhadas com as partes do corpo dos esquartejados em praça pública, além da exibição da cabeça cortada em uma lança. A guilhotina democratizou a morte na medida em que passou a ser utilizada para a execução de qualquer cidadão.
Em um contexto em que a decapitação é vista como menos humilhante do que o enforcamento, inovações nas tecnologias de assassinato visam não só “civilizar” os caminhos da morte, mas também eliminar um grande número de vítimas em espaço relativamente curto de tempo.[7]
Tem-se, assim, uma nova forma de matar que satisfaz a dignidade humana e aumenta a produtividade da morte: de certa forma, satisfaz a dignidade na medida em que a alta produtividade faz com que o tempo de exibição da morte em seu acontecimento seja curto, a exibição do corpo em processo de morte é limitada à caminhada até a guilhotina, à introdução da cabeça no espaço específico de sua permanência até o corte executado pela lâmina afiada. A cabeça cai num balde e a morte se vai. Acontece e, no momento de seu acontecimento, desaparece. A morte não atua mais como um peso que deve ser carregado pelo condenado, mas como raio que é lançado e, logo em seguida, desaparece. Com isso, a sensibilidade em relação à morte também se modifica, pois passa a ser mais tolerada em suas formas eficientes: matar o inimigo do Estado é parte do jogo político.
O terror político da modernidade não só se relaciona com a utopia da razão como definidora do exercício soberano, mas também está ancorado nas narrativas de dominação e emancipação de influência iluminista, que colocará verdade e erro em uma linha de oposição em que também se encontra o “real” e o simbólico. Tais narrativas inserem a emancipação como verdade a ser alcançada, como a tentativa justa de tocar o “real” sem o intermédio de qualquer outro mecanismo meramente simbólico (ou seja, sem o assujeitamento às ideologias, à manipulação e etc). Esta verdade pede o compromisso com a luta que deverá ser executada até a morte: o sujeito do iluminismo está em constante batalha para alcançar a verdade ou morrer tentando. A imposição de um tipo de sociedade regido pela verdade histórica é a destruição daqueles sujeitos que não estejam adequados à necessidade do toque imediato ao “real” através um fluxo histórico emancipatório, detentor da verdade. O terror é encarnado nas práticas que facilitariam o desenvolvimento histórico da sociedade humana em sua busca pela emancipação.
No contexto da colonização, o terror da modernidade é encarnado na situação específica do escravo: “A vida de um escravo, em muitos aspectos, é uma forma de morte em vida. Como sugere Susan Buck-Morss, a condição de escravo produz uma contradição entre a liberdade de propriedade e a liberdade da pessoa”[8]. A liberdade da pessoa se dissolve de tal maneira que é possível estabelecer um comércio entre os corpos, categorizados somente como propriedade e, assim, como objetos passíveis da morte: objetos animados que podem ser mortos a qualquer instante, na medida em que a vida do escravo é propriedade de seu senhor.
Guerra e paz
Para compreender a relação entre os sujeitos e o Estado, Mbembe utiliza Carl Schmitt e sua noção de soberania que passa pelo poder de decidir sobre o estado de exceção. A eficácia da colônia na construção de espaços do exercício do necropoder e da formação de um sujeito para a morte pede o entendimento sobre o imaginário europeu da vida político-jurídica, que é suportada por dois princípios[9]:
- O direito de guerra levava ao reconhecimento de que nenhum Estado poderia propor ou reivindicar ações e territórios para além de suas próprias fronteiras e não poderia, ao mesmo tempo, reconhecer qualquer outra autoridade maior que a sua dentro de suas fronteiras. Transformar a guerra em direito e compartilhá-lo com o restante da Europa também introduz uma responsabilidade sobre a morte: deve ser feita através de modos “civilizados” e sob pressupostos objetivos e racionais.
- O Estado soberano, delimitado a partir de seus territórios, traça os limites de um campo cujo ataque deve ser entendido como invasão, não como exploração ou descoberta. Os Estados soberanos da Europa, ao se delimitarem mutuamente a partir de um Jus publicum, colocam em jogo um campo de territórios respeitáveis e, ao mesmo tempo, separam para todos os outros territórios a possibilidade da colonização. “Sob o Jus publicum, uma guerra legítima é, em grande medida, uma guerra conduzida por um Estado contra outro ou, mais precisamente, uma guerra entre Estados ‘civilizados'”, diz Mbembe.
As colônias, por sua vez, são como as fronteiras dos territórios soberanos: lá, não há uma organização sob a forma estatal, com a produção de vida propriamente humana, de um mundo propriamente humano. Já que não formam um mundo humano regido pela ordem estatal, suas guerras não são guerras entre Estados soberanos com mútuo respeito institucional, seus exércitos não são exércitos regulares formados por cidadãos que, apesar de se entenderem como inimigos, compreendem a substância humana existente em um e no outro. Ao mesmo tempo, a distinção entre o combatente, aquele de fato serve ao exército dentro de um contexto de guerra, e o cidadão é dissolvida. A própria noção de paz se torna impossível com tais traços constituintes da colônia. Na colônia, as garantias da ordem judicial podem ser suspensas e a violência do estado de exceção pode ser exercida em nome da civilização.
Nas palavras de Giorgio Agamben:
O estado de exceção separa, pois, a norma de sua aplicação para tornar possível a aplicação. Introduz no direito uma zona de anomia para tornar possível a normatização efetiva do real.[10]
O que permite a ilegalidade absoluta na administração das colônias, lugares da vida selvagem, dos humanos que detém vida animal. Mbembe, com base em Hannah Arendt, argumenta que, para além da cor da pele, o que traça o corte entre os civilizados e os selvagens é o estatuto natural dos últimos. É o medo de que, por serem animais, por estarem num nível da natureza, a tratem como mestre irrefutável, assim, retomando Hegel[11], é justamente a falta da experiência do dilaceramento absoluto. Falta essa que o coloca um passo atrás na constituição de sujeito, no pertencimento ao campo propriamente humano de ação.
Sendo assim, o massacre europeu nas colônias é atravessado por um desentendimento a respeito da própria humanidade daqueles que lá viviam: a morte dos habitantes das colônias não é morte humana, não é assassinato, é somente morte animal, experimentada como a cotidianidade da morte do gado para a alimentação ou da onça para que ela não ataque os exploradores da região. A guerra nas colônias não é uma guerra entre humanos, nem mesmo é entendida como guerra, mas sim como exploração, como controle, como disciplinamento dos animais presentes: não se trata de buscar uma paz, pois a paz só é possível entre humanos de mesmo estatuto, trata-se de buscar o controle que, em sua ilegalidade, se passa como legal através da zona de anomia que a própria colônia cria para si.
Considerações finais
Através do entendimento de que o biopoder, através do racismo de Estado, cria ferramentas de anonimato na morte em massa daqueles que podem e devem ter seu direito de viver atravessado pelo fazer morrer do poder. O próprio sistema de regulações que o biopoder promove é responsável pela criação do espaço de exercício do antigo poder soberano de matar e, por se tratar de exercício sobre populações, também é ele responsável pelas condições de criação das máquinas de morte em massa, como as câmaras de gás e os fornos nazistas.
Diferentemente do Estado nazista, a colônia é um espaço completamente fora do domínio territorial do Estado soberano. Situa-se em sua fronteira, justamente no espaço que pede o exercício de um poder além-norma. O espaço criado pela colônia é a condição de uma zona neutra, de anomia, em que as garantias e direitos são suspensos em conjunto com uma experiência da vida animal, da vida submetida à natureza, da vida sem fim, contrária ao entendimento do sujeito do trabalho que nega a natureza para fazer da vida uma trajetória propriamente humana.
Da mesma forma, também é possível identificar no exercício do poder soberano a crítica batailleana ao sujeito hegeliano: a morte não é um dilaceramento absoluto, mas sim um excesso que pode ser transgredido pelo soberano. O Estado que se faz como portador da razão é aquele que inflige a dor da morte, que atravessa o corpo humano, os tabus, e promove o acontecimento da morte.
Por todas essas razões, o direito soberano de matar não está sujeito a qualquer regra nas colônias. Lá, o soberano pode matar em qualquer momento ou de qualquer maneira. A guerra colonial não está sujeita a normas legais e institucionais. Não é uma atividade codificada legalmente.[12]
Nas colônias, a guerra é amparada pelas fantasias geradas colonialmente e seu objetivo não é a paz. Guerra e paz não fazem parte de uma oposição relevante, pois a guerra é constante em continuidade com as fantasias coloniais que são estruturadas através das manifestações de guerras marginalizadas pelo imaginário legal europeu e justamente nas colônias encontram força e lugar para emergir. A guerra já não funciona nos moldes da leitura política tradicional, como enfrentamento de Estados soberanos, como enfrentamento submetido a regras que indicam a civilidade dos participantes. Assim, o massacre colonial é liberado. Tem-se, então, a necropolítica operada.
Referências
[1] FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. Tradução: Maria Ermantina Galvão. 1ª ed, Editora Martins Fontes: São Paulo, 2005, p.289-290.
[2] FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade… p.304.
[3] FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população. Tradução: Eduardo Brandão. 1ª ed, Editora Martins Fontes: São Paulo, 2008.
[4] MBEMBE, Achille. Necropolítica. Arte & Ensaios – revista do ppgav/eba/ufrj, n. 32, dezembro 2016, p.128.
[5] MBEMBE, Achille. Necropolítica… p.129.
[6] MBEMBE, Achille. Necropolítica… p.129.
[7] MBEMBE, Achille. Necropolítica… p.129.
[8] MBEMBE, Achille. Necropolítica… p.132.
[9] MBEMBE, Achille. Necropolítica… p.133.
[10] AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção. Tradução: Iraci D. Poleti. 2ª ed. Boitempo Editorial: São Paulo, 2007, p.58.
[11] HEGEL, Friedrich. Fenomenologia do espírito parte I. 2ªed, Editora Vozes: Petrópolis RJ, 1992, p.38.
[12] MBEMBE, Achille. Necropolítica… p.134.
Cite este artigo:
SIQUEIRA, Vinicius. Necropolítica e biopoder – Achille Mbembe. Colunas Tortas. Acesso em [DD Mês AAAA]. Disponível em <<https://colunastortas.com.br/necropolitica-biopoder/>>.
Instagram: @poressechaopradormir
Pós-graduado em sociopsicologia pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo e editor do Colunas Tortas.
Atualmente, com interesse em estudo do biopoder nos textos foucaultianos.
Autor dos e-books:
Fascismo: uma introdução ao que queremos evitar;
Análise do Discurso: Conceitos Fundamentais de Michel Pêcheux;
Foucault e a Arqueologia;
Modernidade Líquida e Zygmunt Bauman.