Bertrold Brecht entende o fascismo como parte do capitalismo e compreende que a luta contra o fascismo é, acima de tudo, uma luta contra o sistema capitalista que permite a gestão da violência a favor dos monopólios dos meios de produção.
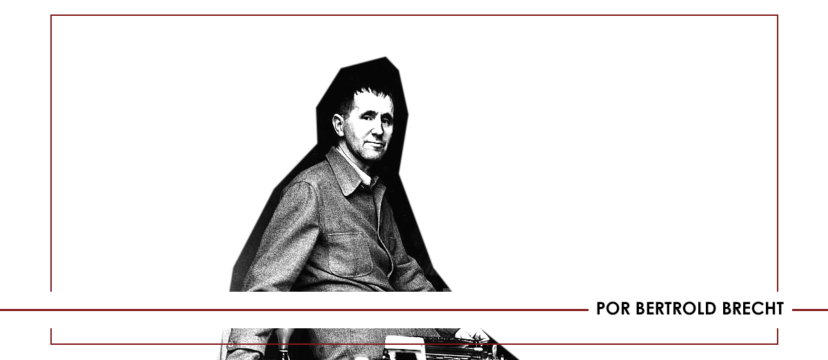
mais que uma opinião
Série de artigos dedicados à reflexão sobre o fascismo.
Aqui, você encontrará incursões de Vladimir Safatle, Esther Solano e Marilena Chauí.
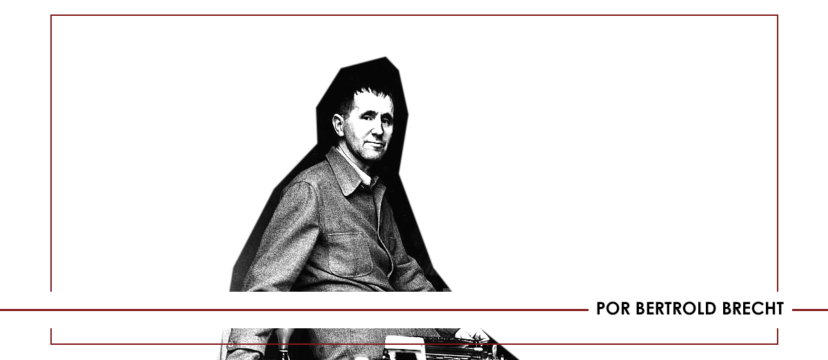
Bertrold Brecht entende o fascismo como parte do capitalismo e compreende que a luta contra o fascismo é, acima de tudo, uma luta contra o sistema capitalista que permite a gestão da violência a favor dos monopólios dos meios de produção.

Anita Prestes explica como o fascismo não pode ser entendido enquanto fenômeno estático, fixo, mas como processo em situações de incapacidade burguesa em conduzir a sociedade através da democracia parlamentar.

Christian Dunker discute sobre a ascensão do fascismo no Brasil e sobre as possibilidades da esquerda neste novo tipo de luta dentro do território brasileiro, no início do século.

Breno Altman explica o nascimento do fascismo no período após a Primeira Guerra Mundial, com base no contexto histórico dos dois países em que ele melhor se desenvolveu: Alemanha e Itália.
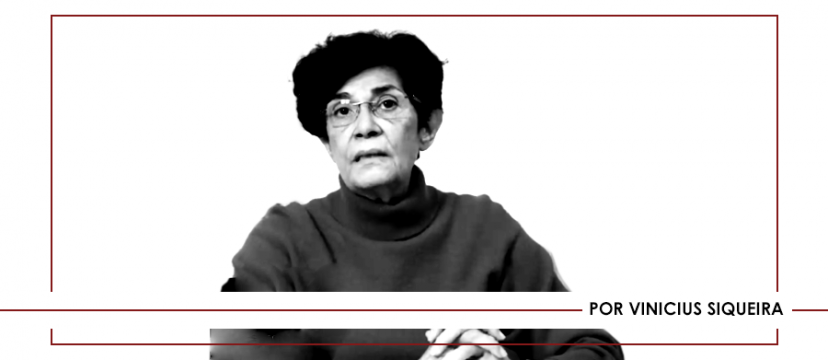
Para Marilena Chauí, o neoliberalismo assumiu os trajes de um totalitarismo voltado para o indivíduo. Ele não é um fascismo, mas contém diversas características autoritárias.

A rebeldia conservadora não é uma força de avanço, mas sim de recuo de busca de um passado melancólico e supostamente mais organizado.

Para Vladimir Safatle, o fascismo é a colonização do desejo anti-institucional pela própria ordem. Um desejo contra as instituições que é liberado como clamor pela mão forte do governo.
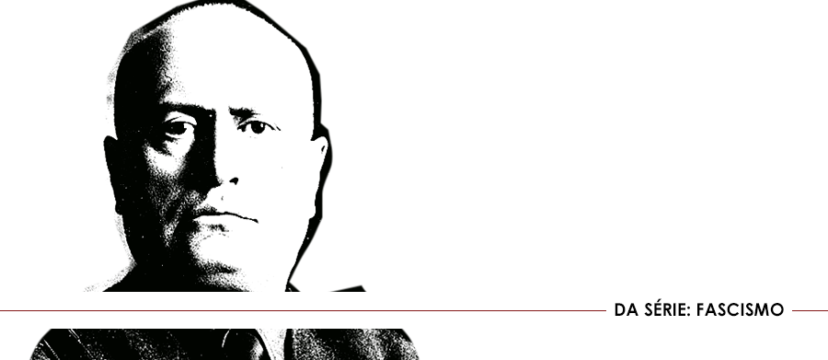
A Itália sofreu com contradições políticas desde sua primeira tentativa de unificação nacional, passando pelas contradições econômicas no processo de desenvolvimento da indústria no Norte e terminando pela própria forma de viver e olhar o mundo dividia entre as regiões Norte e Sul. O resultado foi um momento de crise político-ideológica entre as classes trabalhadoras, entre a classe capitalista e os grandes proprietários agrários.

A Alemanha foi um elo fraco do imperialismo devido à conturbada “revolução” democrática que manteve poder nas mãos do capital agrário. Estes, 1) causaram fraqueza política na medida em que tinham grande influência no bloco no poder, 2) causaram fraqueza ideológica pois ainda tinham dominância na ideologia vigente, com resquícios fortes do período feudal e 3) foram os grandes perdedores econômicos no desenvolvimento acelerado da indústria. Assim, as crises nas esferas política, ideológica e econômica tornaram o país fraco em relação aos outros países imperialistas.
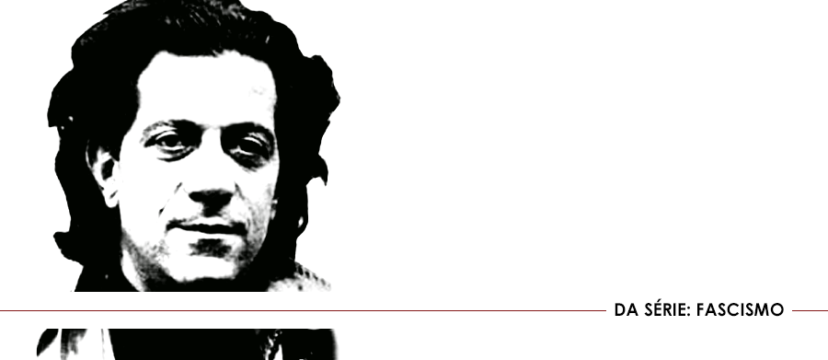
No artigo presente, será exposta uma introdução à teoria do imperialismo do filósofo grego Nicos Poulantzas. O imperialismo, diz o autor, forma uma rede com elos fracos e fortes. Através da relação dos países imperialistas entre si e entre suas formações sociais dependentes e dominadas, surge a hegemonia dos EUA após a segunda-guerra mundial, com tendência para a exportação de capitais para outros países imperialistas europeus. O fascismo, por sua vez, cresce da força de expansão do imperialismo e com o efeito de isolamento e unidade promovidos pelo Estado burguês na fase imperialista.