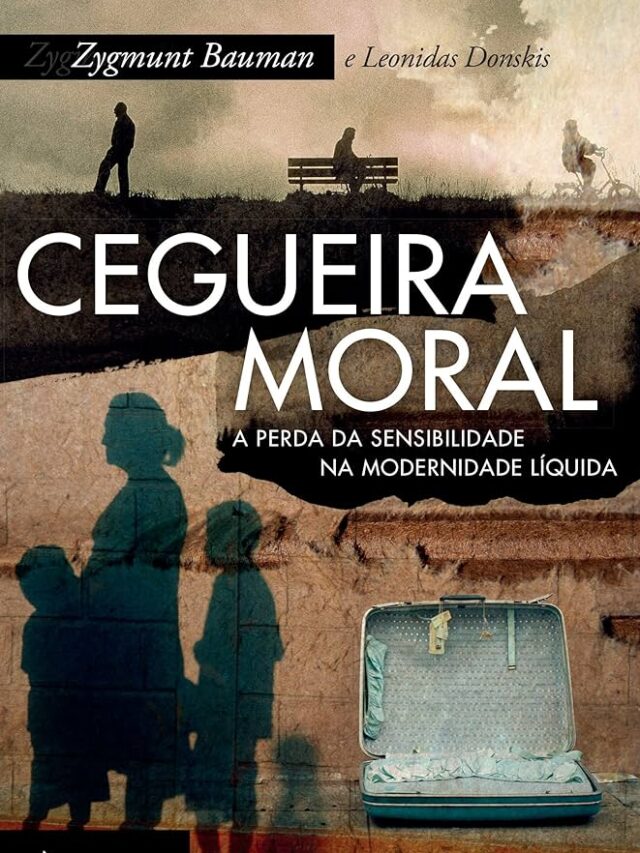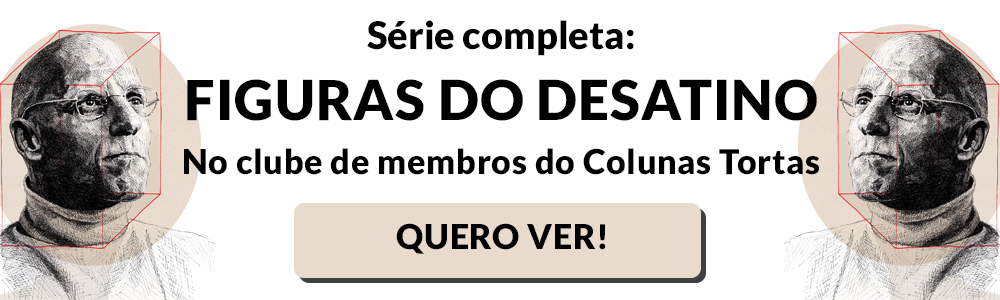MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. Lisboa: Editora Antígona, 2014, p. 25-28.
Só nos é possível falar da raça (ou do racismo), numa linguagem totalmente imperfeita, dúbia, diria até desadequada. Por ora, bastará dizer que é uma forma de representação primária. Não sabendo de todo distinguir entre o que está dentro e o que está fora, os invólucros e os conteúdos, ela remete, antes de mais, para os simulacros de superfície.
Se aprofundarmos a questão, a raça será um complexo perverso, gerador de medos e de tormentos, de problemas do pensamento e de terror, mas sobretudo de infinitos sofrimentos e, eventualmente, de catástrofes. Na sua dimensão fantasmagórica, é uma figura da nevrose fóbica, obsessiva e, porventura, histérica.
Quando ao resto, trata-se do que se apazigua odiando, mantendo o terror, praticando o alterocídio, isto é, constituindo o Outro não como semelhante a si mesmo, mas como objecto intrinsecamente ameaçador, do qual é preciso proteger-se, desfazer-se, ou que, simplesmente, é preciso destruir, devido a não conseguir assegurar o seu controlo total. Mas, tal como explica Frantz Fanon, a raça é também o nome que deve dar-se ao ressentimento amargo, ao irrepreensível desejo de vingança, isto é, à raiva daqueles que lutaram contra a sujeição e foram, não raramente, obrigados a sofrer um sem-fim de injúrias, todos os tipos de violações e de humilhações e inúmeras ofensas.
[…]
É possível ficar impressionado com o recurso ao conceito de raça, pelo menos como temos vindo a traçá-lo. Antes de mais, a raça não existe enquanto facto natural físico, antropológico ou genérico. A raça não passa de uma ficção útil, de uma construção fantasista ou de uma projecção ideológica cuja função é desviar a atenção de conflitos antigamente entendidos como mais verosímeis – a luta de classes ou a luta de sexos, por exemplo. Em muitos casos, é uma figura autónoma do real, cuja força e densidade podem explicar-se pelo seu carácter extremamente móvel, inconstante e caprichoso. Aliás, ainda há bem pouco tempo, a ordem do mundo fundava-se num dualismo inaugural que encontrava parte das suas justificações no velho mito da superioridade racial. Na sua ávida necessidade de mitos destinados a fundamentar o seu poder, o hemisfério ocidental considerava-se o centro do globo, o país natal da razão, da vida universal e da verdade da Humanidade. Sendo o bairro mais civilizado do mundo, só o Ocidente inventou um “direito das gentes”. Só ele conseguiu edificar uma sociedade civil das nações compreendida como um espaço público de reciprocidade do direito. Só ele deu origem a uma ideia de ser humano com direitos civis e políticos, permitindo-lhe desenvolver os seus poderes privados e públicos como pessoa, como cidadão que pertence ao género humano e, enquanto tal, preocupado com tudo o que é humano. Só ele codificou um rol de costumes, aceites por diferentes povos, que abrangem os rituais diplomáticos, as leis da guerra, os direitos de conquista, a moral pública e as boas maneiras, as técnicas do comércio, da religião e do governo.
O Resto – figura, se o for, do dissemelhante, da diferença e do poder puro do negativo – constituía a manifestação por excelência da existência objectal. A África, de um modo geral, e o Negro, em particular, eram apresentados como símbolos acabados desta vida vegetal e limitada. Figura em excesso de qualquer figura e, portanto, fundamentalmente não figurável, o Negro, em particular, era o exemplo total deste ser-outro, fortemente trabalhado pelo vazio, e cujo negativo acabava por penetrar todos os momentos da existência – a morte do dia, a destruição e o perigo, a inominável noite do mundo. Hegel dizia, a propósito de tais figuras, que elas eram estátuas sem linguagem nem consciência de si; entidades humanas incapazes de se despir de vez da figura animal com que estavam misturadas. No fundo, era da sua natureza albergar o que estava já morto.
Essas figuras eram a marca dos povos isolados e não sociáveis, que combatiam odiosamente até à morte, se desfaziam e se destruíam como animais – uma espécie de humanidade com vida vacilante e que, ao confundir tornar-se humano com tornar-se animal, tem para si uma consciência, afinal, “desprovida de universalidade”. Outros, mais bondosos, admitiam que tais entidades não eram inteiramente desprovidas de humanidade. Vivendo adormecida, esta humanidade não se tinha ainda engajado na aventura daquilo que Paul Valéry chamava a “lonjura sem regresso”. Era, no entanto, possível elevá-la até nós. Tal fardo não nos poderia conferir, no entanto, qualquer direito de abusar da sua inferioridade. Pelo contrário, deixávamo-nos guiar por um dever – o de ajudá-la e protegê-la. Assim se justificava a empresa colonial como obra fundamentalmente “civilizadora” e “humanitária”, cuja violência, seu corolário, era apenas moral.
Instagram: @viniciussiqueiract
Vinicius Siqueira de Lima é mestre e doutorando pelo PPG em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência da UNIFESP. Pós-graduado em sociopsicologia pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo e editor do Colunas Tortas.
Atualmente, com interesse em estudos sobre a necropolítica e Achille Mbembe.
Autor dos e-books:
Fascismo: uma introdução ao que queremos evitar;
Análise do Discurso: Conceitos Fundamentais de Michel Pêcheux;
Foucault e a Arqueologia;
Modernidade Líquida e Zygmunt Bauman.