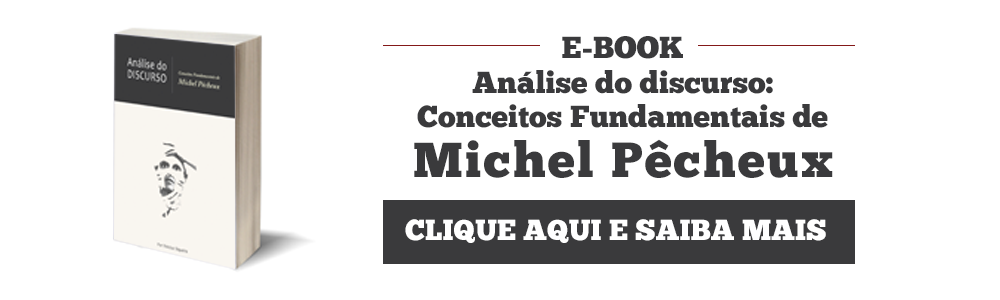POSSENTI, Sírio. O “Eu” no discurso do “Outro” ou a subjetividade mostrada. Alfa, São Paulo, 39: 45-55, 1995. Disponível em <<researchgate.net>>.
Parece que se pode dizer que tais análises mostram claramente, em relação ao sujeito do discurso, que, de duas uma: ou ele não está sozinho, ou não executa seu papel uniformemente. Em qualquer dos casos, definitivamente, ele não é uno. Ou seja, o discurso que produz não é um produto exclusivo de um pretenso sujeito uno e não submetido a condições exteriores. Em suma: dados empíricos mostram que, pelo menos nos domínios da linguagem, uma análise do papel e da natureza do sujeito derivada da concepção cartesiana é uma idéia superada, tanto pela postulação da unidade do sujeito quanto pelo pretenso domínio, nele, da consciência. O sujeito seria mais uma função do que um lugar de origem (ver Foucault, 1986 [A Arqueologia do saber], para a idéia do sujeito como função), pelo menos, repito, no que se refere a sua atividade discursiva.
Certas passagens dos textos que defendem ou simplesmente expõem esta doutrina dão a impressão de que não se trata de apagar o ego, que não se trata de dizer que ele não subsiste de forma alguma, mas apenas de dizer que ele nem sempre tem consciência do que ocorre, quase nunca detém o controle, é constantemente surpreendido ou soterrado por matéria discursiva vertida pelo id, ou é dominado pelo superego ou por alguma instância produtora de discursos que o cerca, domina-o, submete-o, seja ela uma episteme, ou uma teoria, uma doutrina, um locutor indeterminado, enfim, uma instância que é não-eu, que é outro ou Outro. Freqüentemente, no entanto, pode-se fazer uma leitura dos mesmos textos segundo a qual o papel do eu é simplesmente nulo, e não apenas o de um enunciador entre outros (ver ainda Pêcheux, 1990).
Por outro lado, ainda, tais textos mostrariam que se trata de um equívoco postular um papel para a intenção – porque esta abonaria, mesmo que remotamente, a eventualidade de imaginar possível o controle individual sobre uma instância de discurso que de fato lhe escapa, porque é social e histórica, por um lado, e porque tem ingredientes de inconsciência, por outro. Além do mais, segundo a mesma visão, só há “social” se definido em termos de ideologia, e “cultural” se definido em termos de imaginário. O que implica reduções. Neste sentido, por exemplo, Grice é reduzido ao filósofo da intenção, esquecendo-se do pragmaticista que propôs leis (gerais ou não, corretas ou não) de compreensão indireta ou não literal de enunciados – leis que são pensadas como “sociais” e conhecidas pelos interlocutores, de alguma forma; Ducrot é considerado ingênuo (um interlocutor simpático, mas ingênuo), por sua adesão à idéia de uma espécie de grande contrato, e Benveniste é considerado um idealista, porque acreditaria que é o sujeito a fonte do sentido (desconhecendo-se – reprimindo? – outras passagens de seus textos, além daquelas em que aparecem expressões como “ato individual”, “conversão individual” etc).
Por mais interessantes e convincentes que sejam as análises que demonstram a presença do outro no discurso do sujeito, ou de outro discurso no discurso de um sujeito (estas alternativas merecem, por sua vez, uma discussão, embora sejam dadas às vezes simplesmente como equivalentes), sua leitura mais forte, a que leva leitores um pouco apressados a concluir pela ausência do eu, não é clara ou pacífica. A não ser nos arraiais que se definem exclusivamente em termos de política da Análise do Discurso. Mesmo uma análise superficial de textos nos quais há ocorrências de expressões como “discurso do outro” e semelhantes sugere que o discurso a que pertencem não quer eliminar o eu. Pelo contrário, tal análise revelaria como evidente sua presença e papel. Apenas (apenas?), tais textos insistem na existência e relevância também do outro (embora, com freqüência, esta relevância seja excepcional). E insistem em que o eu não é origem, é efeito. Não é uno, é dividido. Dizer que o sujeito é efeito é uma forma de postular seu lugar e seu papel. Embora, e isso também fica geralmente claro, dizendo que este lugar e este papel não são os mesmos que lhe atribuiu uma certa filosofia. A mesma lógica vale para a afirmação de que o sujeito não é uno. O pressuposto de existência continua em vigor. Só uma falha radical de lógica pode fazer equivaler “o sujeito é dividido” ou “o sujeito é efeito” a “o sujeito não existe”.
Mas não é sempre assim que este discurso é entendido, e qualquer defesa de qualquer espaço para o eu (mesmo que atravessado…) soa freqüentemente estranha, como se significasse a afirmação de suas antigas e/ou pretensas características (a consciência, a intenção, a unidade, a origem etc.) e a negação do inconsciente, da lei, do histórico, do imaginário e do social. De qualquer condição exterior e de qualquer elemento não consciente, enfim.
Alguns fenômenos, mesmo que a alguns possam parecer marginais, pelo menos em termos de freqüência (mas não creio que o sejam em termos de relevância), sugerem que o campo não está definitivamente analisado. O objetivo deste trabalho é trazer à consideração alguns tipos de dados de linguagem que parecem mostrar o funcionamento inverso do daqueles dados em que mais tipicamente se costuma surpreender o discurso do outro. Trata-se de textos construídos a partir de modelos muito estereotipados ou de textos muito conhecidos, nos quais ou sobre os quais se dá uma inscrição da subjetividade, isto é, nos quais fica evidente o trabalho de um sujeito sobre e a partir de outro texto ou de um texto de outro. Isto é, é visível o discurso do outro, mas também é visível o trabalho do eu. Com base nesses exemplos, quero apenas argumentar que a presença do outro não é suficiente para apagar a do eu, é apenas suficiente para mostrar que o eu não está só. Isto é, que o ego não pode ser simplesmente apagado, a não ser por uma manobra lingüística que o defina apenas como o outro do outro…
Suponho que eu mesmo (para não citar aqui autores de muito maior autoridade, como Eco e Bakhtin) forneci um número relativamente grande de exemplos nos quais se demanda a ação do ouvinte-leitor para que a interpretação de determinados textos seja possível. Os argumentos foram expostos principalmente a propósito de chistes, e podem ser encontrados em Possenti (1994). Quero, agora, mostrar um certo número de pequenos textos em que esta ação é visível no trabalho do sujeito na sua função de falante. Certamente, há outros tipos de dados em que a ação do sujeito pode ser detectada. Nesses que analiso, o que é mais relevante, me parece, é que ela é impossível de ser disfarçada. É como se se tratasse de casos de subjetividade mostrada.
Análises demonstrando a presença de outra voz na voz do enunciador-locutor – ou, de outro discurso no discurso do locutor – mostram que este fenômeno se dá em tipos muito diversificados de enunciados ou textos. Se alguém quiser, poderá elaborar listas e listas de casos de tal ocorrência. E mesmo nos casos em que não poderá detectar formalmente a presença do outro – considero que são estes últimos os casos realmente interessantes – sempre poderá dizer que há pelo menos uma presença constitutiva do outro – dado que a tese que compõe o núcleo duro dessa teoria é que todos os componentes de um discurso são históricos, que seu exterior é densamente povoado por outros discursos e, portanto, sua emergência num determinado texto numa determinada instância nunca é original, mas já antecedida de muitas ocorrências. Portanto, o discurso nunca é originário de um eu, mas de um outro (discurso). Em termos de análise, no entanto, parece que o interessante é a depreensão dos critérios pelos quais se pode dizer que há uma presença de outro, já que a afirmação de sua presença tem papel axiomático neste modo de ver as coisas.
Os casos mais evidentes do fenômeno são as ocorrências de enunciados de ampla circulação, digamos, os lugares-comuns, as verdades aceitas por todos, que permeiam os discursos mais variados. Se se fala de bebidas, não faltará quem diga que “o importante é não exagerar”, “que importante mesmo não é a quantidade, mas a qualidade do que se bebe”, sem falar das mais óbvias afirmações como “a bebida faz mal à saúde” etc. Em suma, os topoi correntes. Quem se considerasse autor, criador primeiro de tais enunciados, sofreria da mais elementar carência de autocrítica e não apenas de uma sofisticada ilusão ideológica. Outros exemplos poderiam ser colhidos em qualquer campo, como o da culinária, o da educação dos filhos, dos hábitos de alimentação, sono ou vestimenta; o do futebol, da política, da economia etc, isso sem mencionar os provérbios. Realmente, Foucault não precisava ter-se atido aos saberes relativos ao homem para descobrir a “lei” da raridade dos enunciados, ao lado da infinita multiplicidade das enunciações. Isto por um lado.
O outro lado desta medalha é a discussão das condições de emergência de enunciados novos, em relação aos quais uma certa visão ingênua poderia postular a existência de um sujeito original (no sentido de criativo, talvez de criador, isto é, autor de enunciados nunca ditos). As análises de Foucault tentam mostrar, pelo menos nas ciências humanas, como é necessário que haja numerosas alterações num campo de saber (nos domínios não discursivos, inclusive) para que um enunciado novo aconteça, e o quanto, em conseqüência, é ingênuo postular sua origem num indivíduo. Estes casos seriam tipicamente lugares de demonstração de que nos discursos não há “eu falo”, mas “fala-se” (Robin, 1977).
Em boa análise do discurso, seria necessário dizer que tão repetidas e fortes afirmações supõem a prévia afirmação de seu contrário (do outro discurso…), em resumo, a afirmação constante da originalidade, ou a afirmação da constante originalidade dos discursos. Caso contrário, não haveria por que dizer tantas vezes tantas palavras. Em textos de analistas de discurso (seguidores da vertente francesa), em geral, o espaço de alguma possibilidade de originalidade é atribuído, no que se refere ao campo da linguagem, a algumas afirmações de Saussure relativas à liberdade dos falantes na parole, ao contrário do que se dá na sua relação com a langue, domínio no qual nada lhe é permitido, exceto ser o lugar casual de sua manifestação – justamente na fala. Contra isso, tentou-se, com relativo sucesso, mostrar que: a) não há esta liberdade – até porque não há essa fala; b) não há sequer quem pudesse exercê-la, isto é, aquele que poderia ser, segundo uma certa ideologia, um sujeito livre.
É conhecida a afirmação de Barthes (“Aula”, 1978, p.14), segundo a qual a língua é fascista, porque obriga a dizer, bem como é conhecida (embora menos, talvez porque não se pode expressá-la num slogan) sua tese segundo a qual para os que “não somos… super-homens só resta, por assim dizer, trapacear com a língua” (p.16). A literatura seria o domínio que melhor permitiria esta trapaça, que resultaria em ouvir a língua fora do poder. O que ele entende por literatura é “a prática de escrever”, o que faz privilegiar o “tecido dos significantes que constitui a obra, porque o texto é o próprio aflorar da língua, e porque é no interior da língua que a língua deve ser combatida, desviada: não pela mensagem de que ela é instrumento, mas pelo jogo de palavras de que ela é teatro” (p.17).
Entre em nosso canal no telegram: https://t.me/colunastortas.
O Colunas Tortas é uma proto-revista eletrônica cujo objetivo é promover a divulgação e a popularização de autores de filosofia e sociologia contemporânea, sempre buscando manter um debate de alto nível – e em uma linguagem acessível – com os leitores.
Nietzsche, Foucault, Cioran, Marx, Bourdieu, Deleuze, Bauman: sempre procuramos tratar de autores contemporâneos e seus influenciadores, levando-os para fora da academia, a fim de que possamos pensar melhor o nosso presente e entendê-lo.